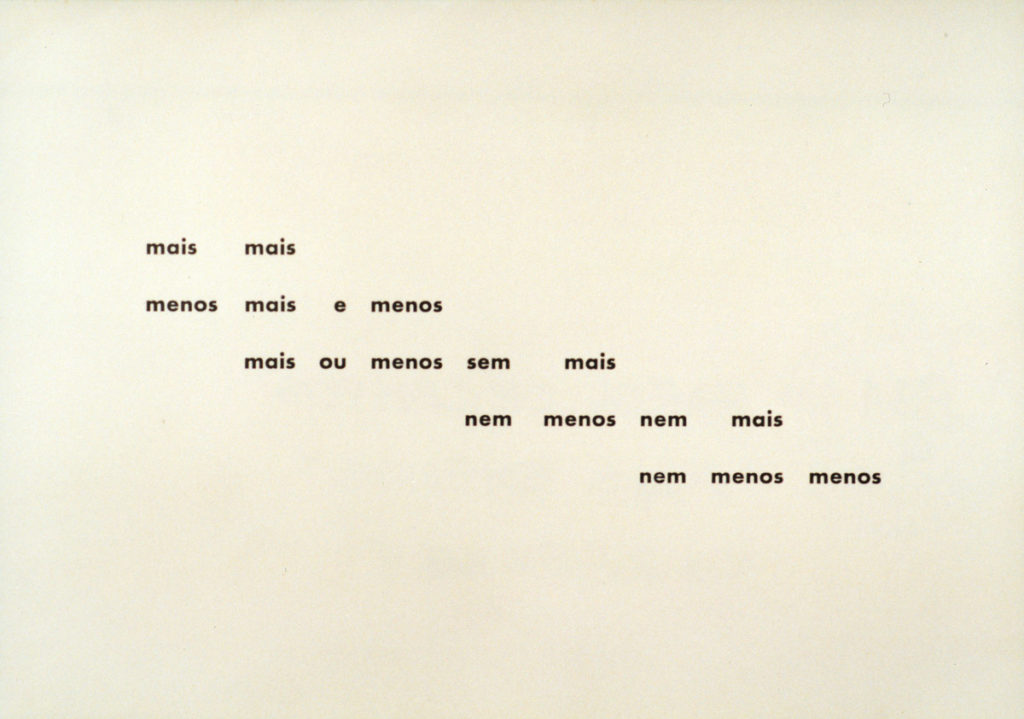Todo o respeito por vossas opiniões!
Mas pequenas ações divergentes valem mais!
(Nietzsche)
O PARADOXO BORGIANO E/OU PESSOANO
(pp. 10-11)
Estamos, pois, diante de um verdadeiro paradoxo borgiano, já que à “questão da origem” se soma a da identidade ou pseudoidentidade de um autor “patronímico”. Um dos maiores poetas brasileiros anteriores à Modernidade, aquele cuja existência é justamente mais fundamental para que possamos coexistir com ela e nos sentirmos legatários de uma tradição viva, parece não ter existido literariamente “em perspectiva histórica”. Como Ulisses, o mítico fundador de Lisboa, que – no poema de Fernando Pessoa – FOI POR NÃO SER EXISTINDO, também Gregório de Mattos, esse “ulterior demônio imemorial” (Mallarmé), parece ter-nos fundado exatamente por não ter existido, ou por ter sobre-existido esteticamente à força de não ser historicamente. O MITO É O NADA QUE É TUDO, completa Fernando Pessoa no mesmo poema.
Nessa aparente contradição entre presença (pregnância) poética e ausência histórica, que faz de Gregório de Mattos uma espécie de demiurgo retrospectivo, abolido no passado para melhor ativar o futuro, está em jogo não apenas a questão da “existência” (em termos de influência no devir factual de nossa literatura), mas, sobretudo, a da própria noção de “história” que alimenta a perspectiva segundo a qual essa existência é negada, é dada como uma não-existência (enquanto valor “formativo” em termos literários).
O MODELO LINEAR E A TRADIÇÃO CONTÍNUA
(pp. 36-37)
A Formação da Literatura Brasileira, de Antônio Candido, privilegia – e o deixa visível como uma glosa que lhe percorre as entrelinhas – um certo tipo de história: a evolutivo-linear-integrativa, empenhada em demarcar, de modo encadeado e coerente, o roteiro de “encarnação literária do espírito nacional”; um certo tipo de tradição, ou melhor, “uma certa continuidade da tradição”: aquela que, “nascida no domínio das evoluções naturais”, foi “transposta para o do espírito”, ordenando as produções deste numa “continuidade substancial”, harmoniosa, excludente de toda perturbação que não caiba nessa progressão finalista (veja-se, no caso do próprio Romantismo que lhe serve de paradigma, a minimização de Sousândrade, por sinal “barroquizante” em largos aspectos de sua dicção, notadamente no Guesa); uma certa concepção veicular de literatura: a “emotivo-comunicacional”, que preside à vertente “canonizada” de nosso Romantismo. Com base nesses pressupostos, constitui o seu modelo de descrição e explicação […]
O BARROCO DUVIDOSO
(pp. 51)
[…] O fato de Gregório, sem prejuízo de ter “permanecido na tradição local da Bahia”, não ter sido redescoberto senão no Romantismo, não é também argumento irrespondível para quem não entretenha uma concepção linear e finalista da história literária; para quem não a veja da perspectiva do ciclo acabado, mas antes como o movimento sempre cambiante da diferença; para quem esteja mais interessado nos momentos de ruptura e transformação (índices sismográficos de uma temporalidade aberta, onde o futuro já se anuncia) do que nos “momentos decisivos” (formativos numa acepção retilínea de escalonamento ontogenealógico) encadeados com vistas a um instante de apogeu ou termo conclusivo. Da perspectiva dessa temporalidade não restrita, o caso Gregório, enquanto hiato no horizonte recepcional, não difere fundamentalmente do caso Gôngora na Espanha; do caso (ainda irresolvido e sem resgate) do Barroco português; dos casos Caviedes e Hernando Domínguez Camargo na América Hispânica, para ficar nesses exemplos de todo em todo expressivos […]
POR UMA HISTÓRIA CONSTELAR
(pp. 60-63)
A história literária, renovada pela estética da recepção, deve, segundo Jauss, conter uma “função produtiva de compreender progressivo”. Cabe-lhe fazer a crítica tanto dos processos de inclusão (a constituição da “tradição”), como dos processos de exclusão (a crítica do “olvido”).
Assim, pode-se concluir, não lhe será dado aceitar simplesmente o sentimento do passado enquanto “lugar comum”, como, ao invés, parece sustentar a Formação da Literatura Brasileira onde se lê “Quando nos colocamos ante um texto, sentimos, em boa parte, como os antecessores imediatos, que nos formaram, e os contemporâneos, a que nos liga a comunidade de cultura; acabamos chegando a conclusões parecidas, ressalvada a personalidade por um pequeno timbre na maneira de apresentá-las.” Nietzsche já nos alertava com relação a essa aceitação resignada da tradição como se fora uma segunda natureza (atitude que vê, na busca de originalidade, uma “ilusão”) Lê-se em Aurora: “Por trás dos sentimentos há juízos e estimativas de valor que nos foram legados na forma de sentimentos (propensões, aversões). A inspiração que provém do sentimento é neta de um juízo – muitas vezes de um juízo falso – e, em todo caso, não de teu próprio juízo. Confiar em seu sentimento, – isto significa obedecer mais ao seu avô e à sua avó, e aos avós deles, do que aos deuses que estão em nós: nossa razão e nossa experiência.” Nessa ordem de ideias, argumentado agora com Jauss e Starobinski, é preciso que a interpretação não anule a “função diferencial” da obra, sua “função transgressora”. A crítica não deve, portanto, excluir a exceção e assimilar o dessemelhante em favor da constituição de um cânon imutável de obras, tornado aceitável e convertido em patrimônio comum: deve, antes, “manter a diferença das obras enquanto diferença” e, assim, “pôr em relevo a descontinuidade da literatura em relação à história da sociedade.”
“É sabido que a tradição – entendida como passado vivo – nunca se nos dá feita: é uma criação”, escreve Octavio Paz em “Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz en su Tercer Centenario”, ensaio de 1951, que preludia seu grande livro de 1982 sobre a autora de Primero Sueño.
De fato, se pensarmos, com Walter Benjamin, que a “história é objeto de uma construção, cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas antes um tempo carregado de agoridade”; se entendermos que “é irrecuperável, arrisca desaparecer, toda imagem do passado que não se deixe reconhecer como significativa pelo presente a que visa”; se ponderarmos que “articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo como ele de fato foi”, teremos conjurado, por um lado, “a ilusão objetivista” e, por outro, a “ilusão positivista” do encadeamento causal dos fatos como aval de sua historicidade.
Compreenderemos, então, que uma coisa é a determinação, objetivamente quantificável, do primeiro público da obra, outra a histórica de sua recepção. Que envolve fases de opacidade ou de prestígio, de ocultação ou de revivescência. Que não se alimenta do substancialismo de um “significado pleno” (hipostasiado em “espírito” ou “caráter nacional”), rastreado como culminação de uma origem “simples”, dada de uma vez por todas, “datável”. Poderemos imaginar assim, alternativamente, uma história literária menos como formação do que como transformação. Menos como processo conclusivo, do que como processo aberto. Uma história onde relevem os momentos de ruptura e transgressão e que entenda a tradição não de um modo “essencialista” (“a formação da continuidade literária, – espécie de transmissão de tocha entre corredores, que assegura no tempo o movimento conjunto, definindo os lineamentos de um todo”, como ela é concebida na Formação da Literatura Brasileira), mas como uma “dialética da pergunta e da resposta”, um constante e renovado questionar da diacronia pela sincronia.
A ORIGEM VERTIGINOSA
(pp. 64-67)
Nossa literatura, articulando-se com o Barroco, não teve infância, (in-fans, o que não fala). Não teve origem “simples”. Nunca foi in-forme. Já “nasceu” adulta, formada, no plano dos valores estéticos, falando o código mais elaborado da época. Nele, no movimento de seus “signos em rotação”, inscreve-use desde logo, singularizando-se como “diferença”. O “movimento da diferença” (Derrida) produz-se desde sempre: não depende da “encarnação” datada de um LOGOS auroral, que decida da questão da origem como um sol num sistema heliocêntrico. Assim também a maturidade formal (e crítica) da contribuição gregoriana para a nossa literatura não fica na dependência do ciclo sazonal cronologicamente proposto pela Formação da Literatura Brasileira. Anterior e exterior a esse ciclo, põe em questão a própria ideia gradualista que o rege. Nossa “origem” literária, portanto, não foi pontual, nem “simples” (numa acepção organicista, genético-embrionária). Foi “vertiginosa”, para falar agora como Walter Benjamin, quando retoma a palavra Ursprung em seu sentido etimológico, que envolve a noção de “salto”, de “transformação”.
Gôngora e Quevedo, e antes de ambos Camões, que aos dois influenciou e já anunciava no maneirismo o código barroco, não abolem a contribuição diferencial – as diferências chamadas Gregório de Mattos, Caviedes, Domínguez Camargo, Sor Juana Inés de la Cruz. Nesse sentido, não há propriamente “literaturas menores”, apassivadas diante do cânon radioso, do “significado transcendental” das litraturas ditas “maiores”. Assim como os cânones não são “eternos” e o belo é historicamente relativo, também não há falar em influência de mão única, que não seja reprocessada e rediferenciada no novo ambiente que a recebeu (como aponta Mukarovsky a propósito da questão da literatura dos “povos pequenos”). Nessa acepção diferencial, o Barroco americano, como o definiu Lezama Lima, é uma “arte da contraconquista”. A esse processo chamamos, desde Oswald de Andrade, “devoração antropofágica”.
Da perspectiva de uma historiografia não-linear, não-conclusa, relevante para o presente da criação, que tenha em conta os “câmbios de horizonte” de recepção e a maquinação “plagiotrópica” dos percursos oblíquos e das derivações descontínuas; a pluralidade e a diversidade dos “tempi”; as constelações transtemporais (porém não desprovidas de “historicidade”, como as vislumbrava Benjamin); dessa outra “perspectiva histórica”, Gregório de Mattos existiu e existe – viveu e pervive – mais do que, por exemplo, um Casimiro de Abreu (“o maior poeta dos modos menores que o nosso Romantismo teve”, segundo a Formação da Literatura Brasileira), e que hoje quase só pode ser relido como Kitsch (veja-se a paródia oswaldiana dos “Meus oito anos”); o frouxo e quérulo Casimiro que, tendo publicado As Primaveras em 1859, foi contemporâneo exato de Baudelaire e Sousândrade… É com Gregório, com sua poesia da “função metalinguística” e da “função lúdico-poética”, com sua poética da “salvação através da linguagem” (Wisnik), que “sincronizam” e “dialogam” o João Cabral, engenheiro de poemas combinatórios, ou a vanguarda que, já em 1955, propugnava por uma “obra de arte aberta” e por um “neobarroco”. É o legado de Gregório que reclamam, quase nos mesmos termos, Oswald de Andrade, fazendo nos anos 40 um balanço de nossa literatura, e Mário Faustino, inesquecível companheiro de geração, ao escrever na década seguinte: “Gregório é o nosso primeiro poeta ‘popular’, com audiência certa não só entre intelectuais como em todas as camadas sociais, e consciente aproveitador de termas e de ritmos da poesia e da música populares; o nosso primeiro poeta ‘participante’, no sentido contemporâneo; poeta de admiráveis recursos técnicos; e um barroco típico: assimilador e continuador da experiência neoclássica da Renascença, sensualista visual, ‘fusionista’ (harmonizador de contrários), ‘feísta’ (utilizando temas convencionalmente ‘feios’), amante dos pormenores, culteranista, conceitualista, etc.” É ele quem agora ressuscita, como muito bem souber ver James Amador, falando em especial de Caetano Veloso, na nova oralidade, lúdica e sofisticada, dos “tropicalistas” baianos, neotrovadores da era eletrônica. […]