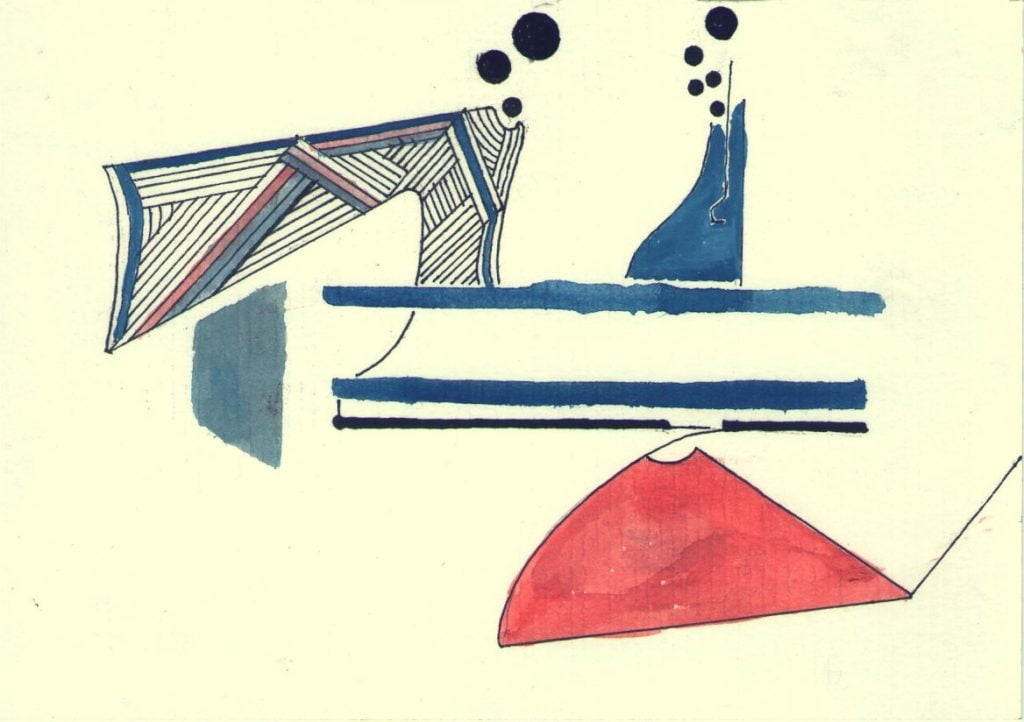Poderia escrever que sua forma de fazer cinema transformou a concepção de documentário brasileiro que existia até a década de oitenta. Poderia descrever os passos de sua carreira, apontando suas primeiras ficções, seu curso de cinema em Paris, seu retorno para o Rio de Janeiro, sua participação nos Centros Populares de Cultura da década de sessenta, seu trabalho como repórter na Rede Globo, terminando em suas mais recentes produções. Poderia, em suma, transcorrer sobre o contexto de sua vida e obra, o que não quero dizer, com verbos futuros-passados, que não seria agradável ou importante.
Para mim, Eduardo Coutinho tanto quanto morreu, viveu. Em seus documentários, ao deixar que indivíduos, pessoas, almas aflorassem através de suas narrativas pessoais, diante de nós, meros espectadores, sem abandonar jamais uma crítica vivaz por trás disso, alcançou um tipo de perfeição ou equilíbrio que jamais vi igual.
Ao começar pela simplicidade e intimidade – crescente – de suas entrevistas, em que o entrevistado quase sempre aparenta tranquilidade e segurança. Coutinho dizia que seu trabalho como entrevistador era pífio, o crédito deveria ser dado inteiramente aos falantes personagens, sem os quais “nada seria possível”. Sua maestria em ouvir e aceitar o que o outro queria dizer – inclusive a mim, quando o abordei em um café! – é justamente o que separa suas obras da grande maioria dos documentários e entrevistas que já assisti.
O outro, cuja existência é necessária para que sejamos alguém, que nos desperta interesse, ódio, desejo, pena, foi o objeto obsessivo do cineasta. Aquele poderia ser uma mulher, um negro, um religioso, morador de favela, catador de lixo ou qualquer pessoa que possuísse um modo de viver distante do seu e lhe interessasse. O perigo, frequentemente assinalado por Coutinho, estaria em transformar o outro em uma classe, uma categoria, fazendo uso de uma retórica ultrapassada, muito comum entre intelectuais, se distanciando da fala deste.
A verdade do documentário estaria contida no momento dos diálogos em frente à câmera e nada além, por mais que os relatos fossem mentiras. Desde que houvessem ocorrido naquele espaço e tempo, tornar-se-iam sua realidade, por sua vez, ineditável. Esta nova relação com o outro, dada através da sensibilidade de Coutinho, leva o espectador a ver e ouvir os relatores de forma mais livre e, portanto, mais receptiva, independente da verdade que carregue consigo.
Poderia escrever então que isto que se fez foi arte. Arte crítica que transforma os participantes desse espetáculo – locutores, interlocutores, espectadores, equipe… – pela criação de uma relação nova entre eles, que possibilita a abertura de novas questões não só acerca do indivíduo, mas da sociedade brasileira, com todas suas singularidades.
E poderia por fim pedir perdão por esse título de artista e todo esse sentimentalismo contido e disfarçado em reportagem sem poesia que não sei muito bem porque escrevo, apenas em sua homenagem, que sei que não gosta, mas recebe como a uma menina de dezesseis anos que já te admirava sem saber de Brasil, cinema, antropologia, etnografia, filosofia, sem saber de nada. Obrigada!