vi lucas lugarinho poucas vezes na minha vida, talvez duas ou três. a última delas há aproximadamente cinco anos atrás, no início do processo da USINA impressa. agora, num já longínquo 2019, conversamos à distância, pela internet: ele em algum bairro que não conheço da cidade do méxico e eu em copacabana, na casa do arthur. lugarinho vive no méxico faz uns anos e talvez não seja à toa que nosso contato tenha sido virtual, como se fizesse mais sentido tratar dessa maneira algo que aparece com frequência em suas meditações: a encruzilhada entre virtual e real, simulação e verdade. no meio dessa pandemia, esse mundo virtualizado parece cada vez mais suplantar o real na experiência concreta da vida. nossas interações passam a ser mediadas por essas telas luminosas- tão bem transfiguradas nas cores vibrantes de lugarinho. em seus quadros, figuras mitológicas e religiosas se confundem com animes, memes e personagens do universo geek: símbolos saídos da cultura global da internet aparecem em posições insólitas, em cenários que em outros tempos poderiam ser considerados apocalípticos… essa palavra tão em voga. “o que é primeiro em si nos aparece por último”. não entendo bem também. mas essa questão da imagem, da consciência, da representação… na pintura de lugarinho, a tela se traduz num quadro que, por sua vez, volta a ser reproduzido digitalmente. quase um ciclo infinito. essa passagem constante do virtual pro real aparece como uma questão de cor e de como a figura é representada – por isso cores estouradas, imagens às vezes não muito delineadas… nesse site aqui é possível dar uma olhada melhor no trabalho dele. só temos a agradecer.
entrevista editada ao som de:
Bill Evans Trio – Waltz for Debby (1962)
Miles Davis – Kind of Blue (1959)
Paul McCartney – McCartney (1970)
Midori Takada – Through The Looking Glass (1983)
Joyce – Passarinho Urbano (1976)
Os Tincoãs – Os Tincoãs (1973)
Gabriel Gorini: A primeira pergunta é só uma curiosidade. Foi a mesma que comecei com a Aline: Lugarinho é sobrenome?
Lucas Lugarinho: Lugarinho é o nome da família da minha mãe. Não sou muito aficionado pela história da minha família, mas ouvi dizer que foi inventado há algumas gerações atrás. Por isso tem muito pouco Lugarinho no mundo. Na real, até tenho que checar se essa informação procede ou não. Pode ser que seja uma memória falsa. O nome é português, de todo modo.
G: Viajo muito em nomes que começam com a mesma letra. Hilda Hilst, Herman Hesse, James Joyce – e o seu no caso as quatro primeiras letras são quase a mesma coisa. C e G se aproximam muito
L: Quando entrei na EBA, na primeira classe de desenho o professor comentou que eu tinha um bom nome pra artista. Justamente por essa relação entre os nomes.
G: E como você travou contato com a pintura? Foi uma escolha consciente em relação a isso ou foi sendo levado?
L: Tenho a impressão de que um dia simplesmente acordei e estava estudando na escola de Belas Artes. Principalmente quando me dei conta do que significava estar numa escola de artes. Nunca tive muito contato com as “altas artes”, ou com a Arte com A maiúsculo, quando era mais jovem. Todo meu entendimento se dava pelo meu meu contato com mídias relacionadas à comunidade geek, por assim dizer. Eu lia comics, jogava videogame, via desenhos e filmes de ficção científica. Tenho pessoas na família, como o meu pai, que consomem muita mídia geek. Meu pai, aliás, é um grande entusiasta da tecnologia. E acredito que isso me levou, inicialmente, a buscar uma carreira mais voltada para as tecnologias. No ensino médio, estudei um nível técnico em telecomunicação, mas no final desse período eu estava mais inclinado a estudar filosofia.
G: Você já pintava? Desenhava anime ou coisas assim?
L: Desenhava e gostava de criar histórias. Por indicação de amigos acabei entrando num curso de desenho quando estava no ensino médio. Meus pais não tinham como pagar o curso, mas os professores me deixavam ir pras aulas. Foi aí que comecei a experimentar com aquarela. Pintava ideias de videoclipes, de jogos de video game, histórias para animações. Essas pinturas plasmavam essas narrativas. Nessa época, eu estava entre estudar filosofia e artes porque queria desenvolver boas ideias e não necessariamente aprender técnicas (era a visão que tinha da EBA). Acabei escolhendo as Artes porque pensei que seria uma carreira menos pessimista. Pensei: me divirto muito mais pintando do que pensando sobre como o mundo funciona.
G: Mas poderia ter ido fazer publicidade, principalmente por causa desse universo geek…
L: Sim. Por isso comento que apareci sem ter muita orientação de onde estava me posicionando. O último quadro que eu havia pintado foi no jardim de infância, acho. Mas, se te sou sincero, sinto afeto por essa narrativa. Acredito que, de algum modo, tudo isso faz mais sentido pra mim agora do que quando entrei na universidade.

G: O último quadro que vocês fez antes de entrar na universidade foi no jardim de infância, mas você fez pintura na Escola de Belas Artes. É isso?
L: Sim. Eu estudei telecomunicações, então aprendia sobre circuitos, televisão, rádio, internet, um pouco de programação. No último dia, quando estávamos todos recebendo os últimos conselhos do professor, começamos a conversar sobre os planos pro futuro, quem ia seguir qual carreira. O professor perguntava de aluno em aluno, e nós respondíamos com uma pequena motivação sobre ter feito essas escolhas. Nessa época, eu tinha acabado de me inscrever para a prova de aptidão técnica. E bem, o que se passou foi o seguinte. Quando perguntado, um dos alunos respondeu que faria História. E todos começaram a zombar do menino (o único outro gay da classe, aliás). O rapaz então comentou, como uma estratégia de que o deixassem em paz: “mas o Lucas vai estudar pintura!”. Nem era a minha vez ainda, mas a classe, mais do que rir e zoar, não entendeu muito bem o que acontecia. E o professor me perguntou: por quê? Eu não tinha um motivo até esse exato momento em que tive que inventar. Respondi que achava que as telecomunicações tinham muito a ver com a pintura e com o desenho, porque como eu iria realmente entender o que vejo numa tela de televisão se não sei pintar? Todo mundo riu e, bom, a conversa seguiu o seu rumo. Hoje em dia tenho esse momento como uma espécie de mantra. Revivi esse incidente quando tive que começar a escrever biografias para aplicar a residências e bolsas. E foi quando me dei conta de que levei essa resposta comigo até aqui, até hoje.
G: Vamos falar um pouco dessa questão. Acho que uma das primeiras coisas que chamam a atenção, pelo menos pra mim, é o fato de você representar coisas que são representações de outras, que aparecem em muitas camadas – muitas vezes distorcida. Pensando nesse momento que você contou e nessa resposta, como é que é essa viagem?
L: Quando comecei a alimentar um argumento para a razão de pintar, sempre chegava à mesma questão: por que as pessoas acreditam em imagens? Saltei de temas religiosos, históricos a temas contemporâneos, mas mantinha uma relação de afeto (ou de rejeição) em relação ao que eu pintava. Hoje em dia tenho isso um pouco mais claro, acredito que as imagens se fazem acreditar através deste afeto que se estabelece entre o espectador e a imagem. Só que existe um problema concreto aí: esse romance está adoecendo o mundo. É justamente esse afeto que possibilita coisas como por exemplo… Posso mandar uma imagem? E falar um pouco sobre ela.

L: Essa foto foi tirada por um soldado americano após jogar uma bomba numa zona de guerra no Afeganistão. Isso que se vê no meio da cidadezinha é a nuvem de fumaça onde caiu a bomba. A foto em si tem um apelo midiático muito grande, ainda que não se saiba exatamente o backstory do que está se passando aí. Ela é uma variação de uma estética de redes sociais como instagram: uma imagem gerada pelo mero oportunismo de produzir uma boa e nova imagem. Mas essa pessoa, para tirar essa foto, teve que abstrair todas as possíveis pessoas que estavam no local de queda dessa bomba, teve que abstrair que existem humanos, que existe a probabilidade de que inocentes estejam morrendo nestes segundos no qual ele tirou essa foto. Esse meu discurso pode soar até um pouco moralista, mas a questão prática é que ele teve que abstrair uma série de fatores estabelecidos socialmente para poder jogar essa bomba. Somado a essa abstração, ele ainda se viu na urgência de registrar esse momento em uma imagem, que circulou as redes até que eu a encontrasse por acaso no twitter. As pessoas morrem e uma imagem é criada. É um aspecto da nossa sociedade atual que devemos ser mais críticos, e tento levar essa perspectiva crítica ao meu trabalho. Porque eu, assim como esse rapaz da foto, sou um produtor de imagens.
G: Viajando nisso, pensei em duas coisas: a primeira é essa relação entre imagem, verdade e mentira. A outra é que o Vitor Faria tá com um caderno seu (a gente fala dos cadernos depois) e ele encontrou uma página com um estudo sobre diferentes níveis da imagem. Queria que você comentasse um pouco essa questão.
L: Claro. Esse é um tema muito pertinente. Deixa só botar uma soundtrack aqui… Existe um paralelo em relação às imagens técnicas contemporâneas: de um lado nós tensionamos imagens todos os dias, aplicando filtros de instagram, montando um meme ou quem sabe simplesmente diminuindo a qualidade pra ela caber num email. Do outro, nós vivemos em uma sociedade na qual se delega às imagens o trabalho de ensinar sobre o mundo, o trabalho de que elas digam a verdade. Até o final do século passado isso não era exatamente uma questão social, porque existiam espaços muito bem definidos para cada um desses aspectos: os grandes monopólios midiáticos tinham uma rotina que alternava conscientemente entre ficção e verdade, que não deixava essas imagens “vazarem” de seus contextos originais. E, antes mesmo disso, tinham diferentes tipos de jornais e de meios nos quais as pessoas acessavam níveis de realidade. Por exemplo, uma crônica ilustrada com uma gravura era diferente de uma manchete com uma fotografia na primeira página. O problema começa quando as imagens começam a evoluir desenfreadamente, ocupando espaços os quais nós já não temos controle. Com a internet aconteceu algo muito interessante, uma espécie de boom de categorias e formas de gerar conteúdo.

No início, as redes eram privadas e pertenciam a bancos, empresas imobiliárias e afins. Essa rede coletava dados para dizer se você podia pedir um empréstimo ou se você iria conseguir terminar de pagar a casa que acabou de comprar. Essa rede se expandiu a um nivel mais casual com a popularização dos home computers. E aí a internet, que só tinha dados brutos, começou a proliferar imagens. Mas esse cyber-espaço era completamente voltado às ficcões. Eram fóruns que discutiam sobre séries, comics, boybands ou, por exemplo, uma homepage dedicada a uma pessoa. Tudo isso era completamente experimental. O cubo branco todavia não invadia a internet, então os fundos, imagens e gifs eram muito conscientes da sua ficcionalidade. O problema é que essa tecnologia, no final das contas, é uma derivação das redes originais que tinham por objetivo maximizar custos e produzir dados como commodities.
G: O que é isso de cubo branco?
L: É o cubo branco das galerias de arte, essa ideia de um design limpo e funcional, que te enfoca e te faz abstrair todo o espaço desnecessário. Basicamente o fascismo das imagens. Deixa eu só concluir o lance da internet, porque é uma peça chave de todo esse jogo. Essa pré-estrutura das redes foi o que permitiu que a realidade começasse a invadir a internet. Redes sociais, internet of things, sharing economy, todas essas coisas têm em comum a hibridização dos espaços virtuais com a realidade fisica – como mecanismos de controle e geração de dados. Um espaço que foi desenhado para ficções começou a ser banhado por narrativas da realidade. Os monopólios de notícias ocuparam esse espaço, as redes sociais se tornaram os standards de interação social e as imagens começaram a proliferar fora do controle individual. Mentira e verdade começam a perder o sentido à medida que nós nos relacionamos com as imagens a partir do afeto e não da crítica. E agora estamos chegando ao point of no return, com os deep fakes e a guerra empresarial pela implementação da internet quântica. Acho que meu trabalho só terá relevância até certo momento da evolução tecnológica… Depois já não valerá a pena fazer algo assim.
G: Mas de alguma maneira o seu trabalho traz pra uma concretude essa simulação. Digo, é uma nova volta. Queria entender melhor quando você fala dessa perspectiva crítica, no sentido de que parece, pra mim, que é a partir dela que a gente consegue obter um discernimento mais “real” dessas dimensões que aparecem pra gente como híbridas, e o lugar do afeto seria esse sem muitas defesas. Então como lidar com essa tensão privilegiando uma disposição crítica, mas já lidando com a representação já voltando da simulação.
L: Acredito que o primeiro passo para a perspectiva crítica tem a ver com superar a própria ideia de verdade e mentira. Não se trata de verdade e mentira, se trata de um fenômeno imagético que prolifera imagens utilizando a estrutura social como um acelerador. Posso botar outra imagem?
A blue java é uma espécie de banana que realmente existe. Só que existem fotos nas quais elas estão completamente azuis, fotos nas quais elas estão com um tom mais rebaixado e até fotos nas quais elas nem são azuis. Encontrei essa banana enquanto buscava coisas em um site de fake news para um projeto que estou desenvolvendo. A banana existe, mas aparece de tantas formas que não dá pra saber como ela se apresenta materialmente. A questão é que ela tem azul no nome, mas se o seu thumbnail não dá pra ver direito que ela é azul, você não vai clicar. O que aconteceu foi que, quando as primeiras notícias sobre isso apareceram, os blogs e portais que queriam visitas tiveram que dar um twist nas imagens.
G: O que é thumbnail?
L: Thumbnail são as imagens pequenas que você clica para acessar um conteúdo, tipo o preview do youtube. Elas servem como um preview do conteúdo de um site. As pessoas mudam as imagens porque elas precisam ser atraentes para as consumidores. As pessoas necessitam lucrar a partir das imagens e não se trata de veracidade ou falsificação. Porque o clique é o objetivo: difundir uma imagem.
Existe algo que você comentou que também gostaria de falar um pouco sobre. Uma vez estava com a Pollyana e conversávamos sobre a arte abstrata. Chegamos à conclusão de que arte abstrata é um termo ineficiente numa sociedade guiada por imagens. Eu acho interessante que o meu trabalho flerte com a abstração…
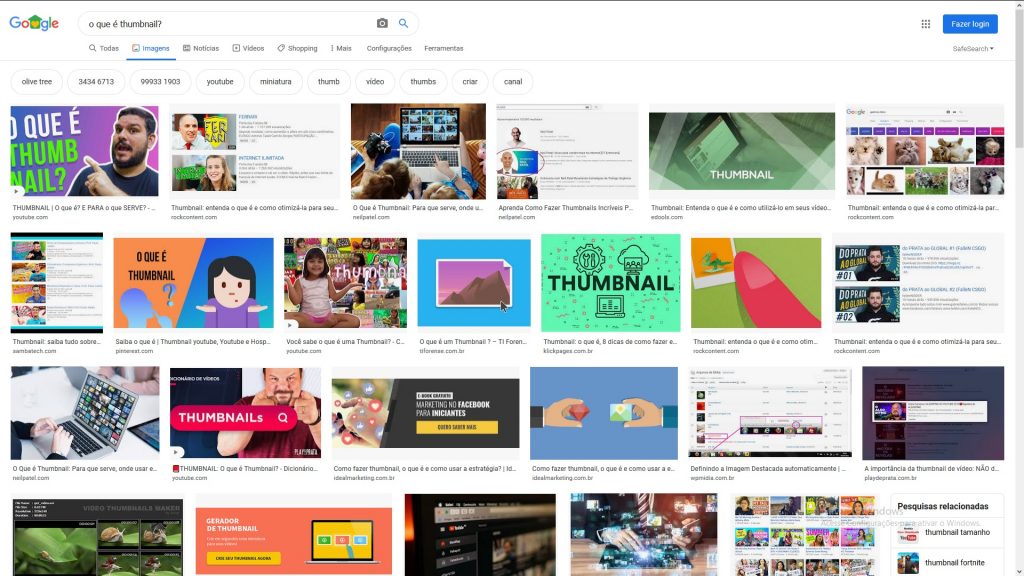
G: Mas por que ineficiente?
L: Argumento em favor do fim dessa ideia por uma razão: a arte abstrata tinha sentido num momento histórico no qual as pessoas não possuíam um vocabulário visual vasto o suficiente para atribuir um nome ou um referencial a um quadro ou a uma imagem. Atualmente existem imagens para absolutamente tudo. A ideia de identidade visual, por exemplo. Somos treinados a dar nomes e categorizar imagens. Nem que seja um sentimento ou algo vago. A abstração se torna mais um processo do que algo em si, sendo ela a incapacidade de conectar-se semanticamente com uma informação visual. E é algo que busco no meu trabalho, desconectar imagens originais das suas referências. As imagens seguem ali, mas algo se perde e algo se ganha, só que agora o trabalho é estabelecer novos nomes e sentidos. Essa é uma pintura recente. Queria te mostrar porque às vezes fica um pouco confuso.
G: Quero perguntar uma questão que pensei agora. Sobre o problema de categorizar, porque quando você vai entrar num edital hoje em dia, pensando num sentido concreto da vida como artista, precisa escrever um projeto, propor um sentido pro que você faz – só que antes de fazer. Então a galera, muitas vezes, é levada a um sentido de categorização sem mesmo saber do que se trata aquilo que vai ser. Essa coisa de identidade visual, por exemplo, hoje em dia você precisa ter a identidade visual antes de ter a obra, antes de ter percorrido o caminho. Acho que de certo modo isso fragiliza o próprio sentido artístico, e talvez seja uma abstração, porque não diz respeito a uma experiência.
L: De acordo. Acredito que este seja um dos resultados das políticas neoliberais e de austeridade no meio artístico. Quando você fala da identidade visual antes da obra, a questão é que não existe espaço e tempo para que o artista desenvolva um pensamento crítico. O meio da arte está completamente em oposição a essa nova ecologia de imagens das redes sociais. Os monopólios estão se reestruturando… As redes sociais obrigam aos artistas a projetarem suas identidades visuais e não sobra tempo entre openings, editais e um segundo trabalho. Essa falta de tempo geralmente faz com que os artistas tenham que se apegar a práticas repetitivas e um jargão artístico. E, na verdade, isso é ainda mais acertado no caso da pintura… E geralmente são pintores de arte abstrata, que por sua vez saturam o mercado de arte com imagens pouco críticas e fazem alusão a um passado glorioso da arte pela arte. Pintar pelo prazer de explorar as possibilidades de um aspecto visual especifico como linhas ou contrastes, formas ou métodos. O “mundo da arte” alimenta essas produções e muitos jovens artistas se encontram nessa situação. Tô lendo um livro Commonism (Nico Dockx e Pascal Gielen, 2018) que argumenta que o artista é um protótipo do trabalhador precário pós-crise de 2008 e, pela minha própria experiência, estou de acordo.

G: Como você compreende a questão da técnica? Pensando nos cadernos também, uma coisa mais de estudo e pesquisa. Porque existe um lugar de técnica nessa possibilidade de representar as coisas a seu modo, da escolha das cores, dos traços. E, para além desse sentido arte pela arte, ela perpassa um sentido de oficio do artista, né?
L: Penso a técnica como um veículo de significação do meu trabalho. Existem certas coisas que quero traduzir pictoricamente. Talvez eu relacione técnica com ética, porque estabeleço uma técnica pensando em que tipo de relacionamento estou desenvolvendo com as imagens que trabalho. Por exemplo, tenho pintado minhas pinturas mais recentes de acordo com um processo específico: tento pintar a distância entre o meu olhar e a imagem no meu computador. Mas isso significa que preciso entender o que se passa nesse espaço físico. Estudei um pouco e cheguei à conclusão de que existem dois tipos diferentes de luz que estão em conflito para chamar minha atenção: de um lado existe a luz ambiente, que ilumina tudo o que podemos ver naturalmente, mas existe também a luz da tela do meu computador, que é uma luz emitida diretamente pela imagem. Tento pintar as duas luzes ao mesmo tempo, então desenvolvi um processo no qual pinto a luz refletida na tela com uma técnica aguada (aquarela ou acrílico diluído) e pinto a luz emitida pela tela com técnicas sólidas (óleo ou acrílico). Tudo isso porque acho importante estar consciente de que, ainda que eu pinte através do afeto, existe uma distância a ser reconhecida e explicitada. Não é necessário que a imagem esteja fidedigna às figuras originais, o que importa é justamente que o processo pictórico tensione essa imagem de modo a que ela possa apresentar algo mais além dela mesma, que ela seja esse simulacro da minha interação com a imagem.
G: E as cores? Elas são muitas vezes bem vibrantes. Queria também que você falasse do cadernos, que são lugares de pesquisa mas que você já expôs.
L: Primeiro em relação aos cadernos. Geralmente uso os meus cadernos como espaços em que posso escrever, desenhar, divagar, e às vezes pintar, sem ter a pretensão de que isso se torne uma pintura, um texto ou um projeto. São geralmente nessas folhas onde eu entendo como a minha cabeça funciona. Gosto muito de pensar sobre a estrutura do “mundo das imagens”, como elas nascem, como elas se proliferam, porque nos apegamos a elas, como morrem ou desaparecem do imaginário individual e coletivo. Esse é um problema que não tenho certeza se alguma ciência é capaz de resolver. Então sempre utilizo os cadernos como formas de atualizar as minhas impressões sobre esse ecossistema, e ao mesmo tempo acabo criando uma narrativa estética que a estrutura do caderno trata de unificar. No final eles talvez possam ser vistos como trabalhos em si mesmos, mas não estou muito de acordo. Existe um paradoxo na pintura que é o fato de você tentar entender uma imagem ou a visualidade por meio da criação de uma nova imagem. Eu tento amontoar o máximo de informações possíveis nos cadernos como uma forma de acelerar o processo de criação de uma nova pintura. Tenho até reduzido o nível de detalhes pra não me perder nessa ideia do caderno como uma obra em si mesma. Meus cadernos mais recentes são palavras em cima de palavras e esquemas visuais, gráficos e um ou outro sketch. As palavras são muito importantes para as imagens da modernidade em diante. Elas são como aqueles peixinhos que nadam junto dos tubarões comendo os restos que eles não conseguem comer. Propagandas, manchetes, e até coisas como esses letreiros que ficam na entrada das cidades nos quais as pessoas tiram foto para subir em redes sociais. Posso te passar umas imagens do meu caderno mais recente pra ilustrar melhor isso. Mas a ideia é divagar menos visualmente nos cadernos para pensar de uma forma mais de “design” de ideias, por meio de gráficos e palavras. O caderno que deixei com vocês tem umas tentativas de gráficos.




G: E como foi sua ida para o México? Sua experiência num deslocamento latinamericano.
L: Essa é a minha terceira vez no México. E cada vez mais que penso sobre o porquê d’eu regressar aqui e escolher viver nesse país, penso sobre a situação de um imigrante em geral. Imigrar, para muitas pessoas que o fazem, é uma necessidade, seja por uma questão social, econômica, política. Mas existe uma beleza na imigração que o seu gêmeo mau, o turismo, nunca poderá realmente proporcionar – que é a imersão completa em um imaginário alheio ao seu. Às vezes olho as crianças saindo das escolas aqui no bairro, e na verdade não tenho como imaginar como é crescer no México, como é descobrir a homossexualidade no México, como é entrar na universidade ou provar maconha pela primeira vez. Todas essas experiências eu as tive tensionando o meu imaginário brasileiro-carioca-grajauense-classemédia. Existe uma solidão nessa falta de conectividade, às vezes os meus amigos põem músicas que eles sabem cantar de cor e o primeiro que penso é: sou um espectador desse mundo. Talvez eu tenha voltado para cá porque me apaixonei por este mistério. Sinto que viver em um contexto que não é o meu me ajuda a ser mais analítico (não necessariamente crítico) com as coisas que vejo. Essa é uma experiência que seguramente impulsionou o meu trabalho até onde ele está agora, ainda que esta relação não esteja explicitada diretamente nos temas que pinto.

G: Você pode falar um pouco dos contextos diferentes em esteve aí?
L: Já vivi em muitas partes da Cidade do México. Cheguei aqui falsificando todos os documentos de proficiência em línguas que a universidade pedia, não falava nada de espanhol quando cheguei. Isso não me impedia de me comunicar, e também é de uma beleza enorme: existiam interseções culturais e sociais que me permitiam entender o suficiente dessa cultura para que pudesse sobreviver. A colonização, por exemplo. É uma ferida que se torna potência de comunicação, algo que vai mais além da irmandade dos idiomas. Esses pontos em comum me ajudaram a entender muito sobre como as imagens podem ser violentas. A partir daí fui entendendo esse país como um bebê vai aprendendo a falar. Entender não é a palavra adequada… Talvez o melhor seja dizer que fui gerando o meu próprio imaginário sobre esse lugar o qual hoje vivo. A questão é que antes o meu contexto era o de um analfabeto visual e linguístico, agora vivo como imigrante não documentado. Uma pessoa à parte de uma parcela da estrutura de poder e controle social. Não posso sair do país antes de me regularizar e tampouco posso sair dessa cidade por causa da pressão estadounidense para que os imigrantes não cheguem lá. Então o que me resta no momento é viver essa distopia: sem registro, sem muitos direitos, sem muitas opções. Essa é uma condição que relaciono com as telas digitais, e talvez a partir daí eu possa fazer um breve comentário sobre cores.


Anteriormente tinha comentado sobre como tento pintar a tensão entre ambas as luzes que alcançam o olhar de um expectador mediante uma tela digital, reproduzindo esse efeito sobre uma tela física. Uma das coisas mais fascinantes da tecnologia das telas digitais, para mim, é o fato de que elas produzem imagens a todo instante, a cada frame todos os pontos de luz se reagrupam para formar uma nova imagem, seja ela uma cópia da anterior ou uma modificação de uma mesma coisa – como quando teclamos e aparecem novas letras nas mensagens que estamos escrevendo. Ou talvez uma imagem completamente nova que aparece do nada em um piscar de olhos. Esses pixels que estão apresentados nessas telas parecem que são desenhados só pra agradar os nossos sentidos. ou talvez completamente randômicos. Penso que cada uma dessas unidades virtuais está tensionando a história da humanidade de uma só vez, sintetizando em cada um dos seus terminais ópticos um valor que reflete culturas, sociedades e civilizações inteiras em um pequeno valor RGB¹. Essas imagens não têm outra escolha a não ser seguir esse fluxo de ordem proposta pelos algoritmos, e no processo ainda são obrigadas a dividir os mesmos recursos físicos para alcançar os nossos olhares. Os dispositivos digitais são as políticas de austeridade materializadas. No meio de todo esse papo filosófico estético, tento pintar a própria tela a partir dessa noção. Não consigo pintar exatamente a tela e nem a distância física entre mim mesmo e a tela. Mas essa é a parte interessante. A cor da pintura diz algo completamente distinto do que quero dizer, e do que a imagem foi designada a dizer originalmente. Essa incompatibilidade é exatamente a mesma sensação que tenho quando acordo todos os dias e me dou conta de que estou no México, no meio do fim do mundo. Incompatibilidade e incompreensibilidade (essa palavra existe em português?). E bem, esse também é o momento no qual, enquanto pintor, me sinto mais próximo das imagens que pinto.

¹ “RGB é a abreviatura de um sistema de cores aditivas em que o Vermelho (Red), o Verde (Green) e o Azul (Blue) são combinados de várias formas de modo a reproduzir um largo espectro cromático. O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador, retroprojetores, scanners e câmeras digitais, assim como na fotografia tradicional.” (Wikipedia)










