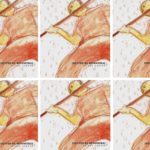Antes a vida, ávida. A vida – o verde. Verdeja e vive até o ar, que o colibri chamusca. O mais é a mágica tranquilação, mansão de mistério. Estância de doçura e de desordem
João Guimarães Rosa
Um poeta persa do século XIII, Rûmi, nos deixou, além de poesias, algumas histórias. Uma destas histórias diz que, certa vez:
Alguns Hindus trouxeram um elefante para exibição.
Ninguém aqui nunca viu um elefante.
Eles o trazem durante a noite para um quarto escuro.
Um por um, nós adentramos na penumbra e retornamos,
descrevendo a nossa experiência.
Um de nós calhou de encostar na tromba, e disse:
“Uma criatura que se parece com um cano d’água.”
Outro de nós tocou uma orelha, e disse:
“Um animal irrequieto, com a forma de um leque, sempre em movimento.”
Outro tocou numa perna, e disse:
“Um animal passivo, quase imóvel, como a coluna de um templo.”
Outro subiu, apalpou suas costas, e disse:
“Um trono de couro.”
O último, o mais esperto, analisou uma das presas:
“Uma espada grossa feita de porcelana.”
E ele estava muito orgulhoso da sua descrição…
A palma e os dedos da mão apalpando o elefante na escuridão são a forma como os nossos sentidos exploram a realidade do elefante. Cada um de nós toca um local e compreende o todo a partir deste ponto de vista.
Se cada um de nós carregasse uma vela, e se adentrássemos juntos na penumbra, então nós veríamos um elefante.²
Esta breve história celebra e concentra três mil anos de pensamento filosófico. A cada vez, com cada físico ou filósofo, a totalidade do real vê-se novamente submetida a uma única parte ou elemento. Ou mesmo a junção deles, como em Empédocles e em Anaxágoras, para quem o real seria constituído pelos quatro elementos. Assim, ao longo da história da filosofia, ou melhor, da filosofia como história, muitos filósofos já entraram neste quarto escuro, tocaram uma parte do elefante e tentaram definir o todo por esta parte.
Talvez possamos, brevemente, resumir as definições filosóficas deste elefante-realidade: Caos (Hesíodo); Água (Tales); Ápeiron/Ilimitado (Anaximandro); Ar (Anaxímenes); Hen/Um (Parmênides); Panta Rhei/Fogo (Heráclito); Átomo (Leucipo e Demócrito); Ideia (Platão), Primeiro Motor Imóvel (Aristóteles); Uno-Bem (Plotino); Não-Ser/Incognoscível (Dionísio, o Aeropagita); Aquilo de que não se pode pensar nada maior (Ancelmo da Cantuária/ Santo Ancelmo); O Mais Perfeito dos Seres/Substância Infinita/Axioma (Descartes); Substância Absolutamente Una (Espinosa); Deus Imaterial (Leibniz); Providência/Ótimo Máximo (Vico); Transcendental/Éter [Ente Sumo; Suma Inteligência; Sumo Bom] (Kant); Absoluto (Hegel); Ser/Nada/Sagrado (Heidegger).
Tantas e diversas definições… Uma polifonia infinda, mas sob uma única e mesma questão, que passou da vida para a filosofia, da filosofia para a teologia, da teologia para a ciência, da ciência para a história, da história para a física quântica e, atualmente, da física quântica para o jornalismo: que é, pois, verdade? Que definição do elefante é o elefante mesmo? Qual o verdadeiro princípio/causa/fundamento da realidade? É fato ou fake? Recentemente, em um reality show bastante conhecido do público televisivo brasileiro, o Big Brother Brasil, uma das participantes, em conversa com um grupo, questionou: – “Como falar em verdade se cada um tem a sua verdade? O que é justo para você, não é para mim, pois eu vejo as coisas de um lugar e você de outro”.
Três situações distintas, advindas de três lugares distintos: a primeira de uma literatura mística prosaico-poética; a segunda da literatura filosófica; e a terceira do cotidiano, do comum da vida, mas que terminam por nos fornecer um único e mesmo exemplo a respeito da verdade. Qual seja? O problema da verdade ou, da realidade, parece ser um problema de ponto de vista. Mas ponto de vista, aqui, não exprime o lugar onde se situa um observador ou sujeito determinado Antes, conforme observa Deleuze, “será sujeito aquele que vier ao ponto de vista, ou sobretudo aquele que se instalar no ponto de vista”³, pois “não é o ponto de vista que varia com o sujeito, pelo menos em primeiro lugar; ao contrário, o ponto de vista é a condição sob a qual um eventual sujeito apreende uma variação (metamorfose) ou algo = x (anamorfose).”⁴
Mas o mundo deleuziano é superfície. Um mundo que não admite mais fundamentos, seja esse Deus ou o Homem como “Princípio, Reservatório, Reserva ou Origem”⁵ de tudo. Por isso, em um mundo que não mais experimenta a crise de todos os valores e fundamentos, mas sobretudo a crise do valor como valor, e do fundamento como fundamento, não se trata mais de “reencontrar ou restaurar o sentido, seja em um Deus que não teríamos compreendido suficientemente, seja em um homem que não teríamos sondado o bastante” ⁶ . Insistir neste aspecto, nesta direção, talvez nos dissesse Nietzsche com seu Zaratustra, seria obra da má consciência e do ressentimento de doutos que puseram diante de si a máscara de um deus, e na máscara de um deus escondeu-se o verme mais abominável. ⁷
A tarefa a qual Deleuze se propõe é, portanto, não só a de alargar os limites filosóficos, mas antes a de deslocar as fronteiras do pensamento. Não se trata mais, como nas metafísicas de tipo clássico, de reencontrar uma verdade oculta, acima ou abaixo e, com isso, reconduzir a história do pensamento filosófico para uma região inequívoca que possibilite e assegure a realidade do real. Em um mundo constituído pelo mais feio dos homens, como nos fala Zaratustra, aquele que precisa matar Deus em seu coração como modo de vingança por não mais suportar uma testemunha onisciente e onipresente ⁸ , as palavras do Cristo em João 8:32: “Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará”, não fazem mais sentido. E não fazem porque a morte de Deus no coração do homem simboliza, de modo análogo, a morte da Verdade.
Se por um lado nos sentimos tão aflitos e desnorteados como Tomé ao perguntar ao Senhor, em João 14:5: “Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabemos o caminho?”, por outro, não encontramos mais a inequívoca resposta de Cristo no versículo seguinte, em João 14:6: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida”. A morte de Deus, ou seja, a crise do fundamento como fundamento, não aniquila apenas a entidade suprema, mas arrasta consigo toda a realidade adjacente, “a verdade e a vida”. E se não nos resta mais um caminho e uma verdade, então é possível subverter por completo a definição essencial de Deus encontrada em 1 João 4:8: “Deus é amor”.
Na nossa máscara de um Deus, como prefigurou Zaratustra, escondem-se os vermes do ódio, da intolerância, da violência, da miséria, da homofobia, do racismo, da misoginia… Subvertem-se os antigos atributos de Deus, tais como “bondoso, paciente, não invejoso e não orgulhoso” por seus antônimos. Pois o Deus do nosso presidente e de todo fundamentalismo cristão é, a rigor, maldoso, impaciente, invejoso e, sobretudo, orgulhoso. O que experimentamos hoje, a cada instante, como bem percebeu Deleuze, é a introdução do absurdo, do nonsense, do não-senso na vida.
Por isso, a tentativa deleuziana, como outrora falamos, não diz de nenhum regresso messiânico, tampouco de nenhuma superação metafísica salvífica. A empreitada a qual Deleuze se propõe é a de “encontrar entre o sentido e o não-senso uma relação análoga à do verdadeiro e do falso”⁹ . Mas o não-senso não representa, para Deleuze, a falta de sentido, antes o não-senso é justamente aquilo que, por não ter sentido, pode doá-lo. Pois “o sentido não é nunca princípio ou origem, ele é produzido. Ele não é algo a ser descoberto, restaurado ou re-empregado, mas algo a produzir por meio de novas maquinações”. ¹⁰
Platão e o diálogo Sofista: raízes históricas da questão
Decerto que Platão jamais conheceu a máquina com o sentido que nós, hoje, lhe emprestamos. Aliás, a própria palavra máquina, advinda do latim machina,ae, somente surge no vocabulário por volta do século XVI. Mas, se estamos falando de verdade e de sentido, talvez possamos aproximar a maquinação deleuziana a Platão, visto que o primeiro sentido de máquina diz de um “engenho destinado a transformar uma forma de energia em outra e/ou utilizar essa transformação para produzir determinado efeito.”¹¹
Como sabido, a sofística e os sofistas são temas que atravessam os diálogos platônicos. E não só atravessam como, no diálogo homônimo, o Sofista, a questão se concentra. No parágrafo 234e do supracitado diálogo, no âmbito de uma discussão a respeito do que é do que não-é, o Estrangeiro de Eleia, um dos dialogantes, diz a seu interlocutor, Teeteto: “[…] o que diz não algo (mé tí), com toda necessidade, ao que parece, está de todo dizendo nada (méden).
Donde Teeteto responde que “mais necessário não se pode. Nisso, o Estrangeiro prossegue e diz: “Portanto, nem mesmo devemos acordar; isto é, que alguém dizer algo desse tipo, na verdade, seja dizer nada, mas nem se deve dizer que fala quem tentar pronunciar que não-é”.
A princípio e sem quaisquer comentários, a questão fica quase incompreensível. Vamos imaginar, portanto, o desenho simples de um raio:

A discussão entre o Estrangeiro de Eleia e Teeteto se dá não só sobre o que é e o que não é, mas também sobre o verdadeiro e o falso. Transpondo o trecho citado do diálogo ao nosso exemplo, poderíamos dizer que isto é um não raio. Ao que o Estrangeiro de Eleia diria, como resposta a Teeteto, que estamos a falar nada, ou mais propriamente, que estamos dizendo algo sem sentido. E aqui se concentra, para Platão, toda a questão da sofística, do verdadeiro, e do falso.
O tipo sofista seria aquele que diria, justamente, isto é um não raio, ou seja, aquele que diz que algo não é como é e, assim, falsificaria a realidade a partir de um não sentido. A tarefa que Platão assume para si, na antítese da sofística é, então, a de percorrer um caminho que pudesse provar que esta afirmação, aparentemente verdadeira, em realidade se mostra como uma falsidade, i.e., uma afirmação falsa. Como Platão faz isso?
Platão faz com que o Estrangeiro de Eleia recorra aquilo que se chama de “gêneros maiores ou supremos”, a saber, “o ser, o mesmo, e o outro”. Imaginemos que tudo que há no mundo existe, ou seja, que todas as coisas estão ligadas ao gênero supremo “ser”. Assim, a afirmação sofística de que isto é um não raio, somente ganha sentido se consideramos que essa figura, ou seja, que essa imagem do raio existe, i.e., que está ligada ao gênero supremo “ser” do mesmo modo que o raio natural está. A referência ao “ser” que o tipo sofista produz é uma referência pelo “mesmo”, e isso implicaria atribuir à imagem o mesmo estatuto ontológico, i.e., o mesmo modo de existência do raio natural.
Entretanto, cabe rememorar as palavras do Estrangeiro de Eleia ao dizer que “aquele que diz não algo está dizendo nada”. Por quê? Porque a engenhosidade ou a maquinação sofística consistia, justamente, em fabricar sentido a partir da aparência de algo verdadeiro. E essa aparência possibilitaria a afirmação sofista de que tanto não há sentenças falsas, quanto o não-ser não pode ser concebido.¹² Para desmontar a falácia e expor a falsidade da afirmação, o Estrangeiro ligaria a imagem do raio ao gênero supremo “ser” não pelo “mesmo”, mas antes pelo gênero do “outro”. Ou seja, a frase isto é um não raio é falsa, diz nada, ou não tem sentido, porque assume como pressuposto básico que a natureza da imagem e a natureza do raio em si sejam as mesmas. O Estrangeiro de Eleia diria: isto é um raio, posto que, como imagem do raio, está ligada ao gênero supremo “ser” não pelo “mesmo”, como o raio natural em relação a si mesmo, mas está ligada ao “ser” pelo “outro”, i.e., como imagem de algo.
Platão parece ter percebido a profunda fragilidade da verdade e do sentido, e aqui podemos retomar a discussão de Deleuze. Tal como o exemplo do raio nos mostra, é possível que algo desprovido de sentido como, por exemplo, a afirmação de que a imagem do raio não é um raio, assuma sentido em determinadas configurações. Dito de maneira deleuziana, é possível que o não-senso passe a informar a realidade de modo tal que se torne a sua medida, i.e., que translade ao sentido. Neste ponto, talvez pudéssemos dizer, como um sofista, isto não é não-senso. A tarefa aqui, como se percebe, continua a mesma de Platão, ou seja, trata-se de poder reconhecer os caminhos pelos quais o sentido se configurou de modo tal que passou a ser compreendido como não-senso e, a partir deste esvaziamento (Deleuze diria, desta dobra, deste ponto de vista), passou a informar a realidade novamente como sentido, i.e., como sentido privado de sentido.
No momento em que isso acontece, i.e., no momento em que a flutuação ou a variação de sentido é mais forte que sua repetição, o risco que corremos é o de transformarmos toda a realidade em um sofisma, i.e., em uma ilusão ou falsidade. Pois neste momento perderíamos as condições de possibilidade de reconhecer o não-senso como não-senso, e passaríamos a percebê-lo como o sentido próprio ou, antes, como o único sentido possível. Uma realidade absurda, repleta de chagas, que necessariamente destina o homem a mais profunda penúria.
Que dizer do nosso mundo hoje? Os ultra ricos em seus bunkers, temerários a um vírus, esperando pelo programa espacial que os levará a um novo mundo, a uma colônia fora da Terra, em um novo planeta habitável. Os ultra pobres, por seu turno, suportando a úlcera da miséria, igualmente temerários ao poder inimaginável de um vírus, também a espera de um novo mundo, senão fora da Terra, no paraíso messiânico prometido pelo Apocalipse 21:1: “E eu vi um novo céu e uma nova terra; pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não é”. Dois tipos aparentemente distintos, mas que terminam por conformar um único e mesmo mundo, um único e mesmo ponto de vista que produz sujeitos incapazes de reconhecer o não-senso inerente à essa imagem de mundo sofismática.
Alguns apontamentos vitais
Se, como Deleuze propõe, há uma analogia entre sentido e não-senso e verdade e falsidade, então a afirmação nietzschiana de que “Deus está morto” e sua consequência ético-epistemológica, a saber, de que não há verdade, também pode encontrar um novo sentido antes de decair por completo no limbo do não-senso e da vida absurda. A questão é que este novo sentido que nos livraria de uma vida disparatada e completamente irracional, não está escondido em lugar nenhum. Talvez por isso tanto se procure por ele e, quanto mais se procura, mais ele se retrai. Este sentido precisa ser produzido. Se não há mais nenhum valor ou fundamento (deuses ou homens) que possa sustentar e assegurar o âmbito da veracidade aberto, então a nossa tarefa é hercúlea pois, para que possamos dizer ao não-senso que ele é, sim, não-senso, é preciso remontar às raízes históricas da questão, i.e., indagar não a uma pessoa, mas a vida mesma: como isso foi possível?
Uma resposta necessariamente parcial, diz: isso foi possível porque, como Platão outrora havia percebido, o não-ser pode ser concebido, i.e., de um modo misterioso e desordenado, como alude a epígrafe deste texto, o não-ser integra a dinâmica do viver, e integrando-a o perigo reside em que ele se torne nosso princípio e nossa meta. Por isso Platão insistiu em manter aberto o caminho pelo qual se pudesse reconhecer a falsidade como falsidade, porque no momento que se desfaz essa possibilidade, o homem inventa a realidade mesma como não-ser, ou seja, o homem se desumaniza do homem. Tonamo-nos, a rigor, des-humanos. Se lembrarmos das palavras do Estrangeiro de Eleia no diálogo Sofista, a saber, de que todo aquele que tenta pronunciar que não-é, sequer se pode dizer que fala, então teremos uma imagem precisa do nosso mundo, um verdadeiro diálogo de surdos e mudos, onde ninguém fala ou escuta e todos se desentendem, uma desumanidade babélica.
Mas não há aqui determinismo, ao contrário. O que há é o mistério da vida, o que há é o inefável viver. Do mesmo modo como produzimos um mundo sofismático e, assim, numa relação reciprocamente constitutiva, nos desumanizamos pelo falso mundo, é possível produzir um novo sentido. Um novo mundo que não está nem no céu messiânico, nem na nova Terra que um dia, talvez, alguma agência espacial irá encontrar.
O maravilhoso mundo novo está aqui, agora, a nossa disposição. Toda vez que nós enveredamos sinceramente pela história a fim de dizer sim para a vida comum, este novo mundo é e há, existe. Toda vez que enveredamos pela história com uma postura negacionista, i.e, empenhada a dizer não à vida comum, o novo mundo não-é e não-há. Estas duas forças são inseparáveis, e é justamente por isso que a vida nunca esteve nem estará, jamais, decidida. A cada nova época, a cada nova geração, a cada nova criança no mundo é preciso que nos decidamos de novo a respeito do viver, e é isso que garante que o espectro da verdade, senão de um Deus ou de um Homem, mas da Vida, continue aberto. Ainda que esta abertura nos permita produzir sua antítese mesma.
Por isso verdade não diz de algo individual, como costumeiramente pensamos. Não há a minha verdade, ou a sua verdade, minha cara leitora. Há, cada um nós, com uma vela, apalpando o elefante no quarto escuro. Mas se ambos podemos apalpar o elefante, então há algo em comum, independentemente de qual parte eu toque ou você toque… Há a possibilidade do tocar. Há Ser, diria Parmênides e Platão, e é preciso reconhecer a falsidade inerente a todo e qualquer não-senso, a todo e qualquer sentido que negue esta possibilidade e ouse dizer que não-é. Não é um vírus, é uma gripe; não é recessão, é crescimento lento; não é golpe, é retomada de poder… Modos contemporâneos do falso.
Em um mundo de não-senso, ou seja, de sentido desprovido de sentido que, nem por isso, se apresenta como ausência, mas ao contrário, que assume a totalidade do poder ser, ainda que se torne um poder ser que aniquila o próprio sentido, é preciso que, como Platão, saibamos reconhecer as ambiguidades e as falsidades da e na dinâmica histórica. E é por isso que não basta dizer: “Ele Não”. Platão não se limitou a negar a negação dos sofistas, i.e., a negar a afirmação de que não há falsidade, nem tampouco de que o não-ser jamais poderia ser concebido. Antes, empenhou-se por deixar aberto o caminho do reconhecimento. Esse texto não ousa ser nada além de migalhas… Migalhas de pão que, talvez, nos ajudem a lembrar o caminho, ou mesmo a inventar outro.
Notas:
¹ROSA, J. G. Jardim fechado. In.: Ave Palavra. p. 1141.
²RÛMI. Um elefante na penumbra. In.: A Dança da Alma.
³DELEUZE, G. As Dobras na Alma. In.: A Dobra: Leibniz e o Barroco. p. 36.
⁴Idem. Ibidem. p.37.
⁵DELEUZE, G. Do não-senso. In.: A Lógica do Sentido. p. 74.
⁶Idem. Ibidem. p. 75.
⁷NIETZSCHE. Do Imaculado Conhecimento. In.: Zaratustra. p. 154.
⁸Idem. O mais feio dos homens. In.: Op. Cit. p. 313.
⁹ DELEUZE, G. Do não-senso. In.: A Lógica do Sentido
¹⁰ Idem. Ibidem. p. 75.
¹¹Grande Dicionário Houaiss.
¹²PLATÃO. Sofista. 260d.