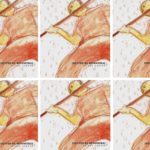Sempre me perguntei o porquê não sonhei em ser astronauta. Era como um defeito de infância, um pecado da imaginação. Em momento algum os astros me fascinaram . Todo o imaginário de um espaço lá fora, um imenso espaço inteiro por ser descoberto, não se materializava também em mim. Disseram-me ser isto, ser criança. Ser criança era como sonhar indefinidamente com o espaço, e viver como se só o sonho bastasse. Ser criança era sonho que se bastava em indefinir-se.
Quando era criança, sonhei com uma língua que fosse só minha. Eu a imaginava como quem aguardava um bote, e desejasse navegar no desconhecido sem com isso se perder jamais. Sonhava uma língua como quem ansiava o espaço. Encontrá-la era a forma possível de inventá-lo, a forma mais desejável de trazê-lo à vida, a vida que valeria indefinir no tempo. O mais próximo que tinha de sonhar com o espaço a ser desvendado quando já o espaço fora todo revirado. Uma língua advém espaço quando ele jamais pode deixar de ser mistério, e de nos atrair naquilo que guarda de mais opaco.
A primeira vez que viajei foi quando conheci o inglês. Ou conheci que existe algo chamado inglês na primeira vez que viajei. Em algum momento de nossa infância nos ensinam que há algo como línguas estrangeiras. Disseram que era a língua da minha família, que havia um espaço em inglês que também me pertencia e que ainda estaria por nela me reconhecer. O meu pai disse que a família é habitar uma língua. Eu pensei que o inglês fosse uma família a ser criada. Não havia país – haviam suas palavras. Errantes, elas me foram chegando e me convidando a também pertencê-las, como as ilhas de Belle and Sebastian, que se espiam mesmo separadas. Mas não era terra ou ilha. Era um bote feito inteiro de língua. A Escócia pra mim era inteira língua.
Deleuze falava das viagens imóveis, da capacidade de navegar em si com uma velocidade ainda inusitada, ainda toda ela surpresa e espanto. A língua nova é toda ela espaço de surpresa e espanto, como quem esbarra no inusitado pelo peso de um balbucio errado. E o erro, a deixa para se perder com elegância. Era o livro mais longo do mundo, a nave possível. Ele cheirava aos jornais velhos dos tempos em que as notícias pareciam sempre mais importantes e cada palavra que me oferecia parecia demorar-se em mim como se me lançasse ao vácuo. Toda palavra nova é como um convite à suspensão da gravidade. Basta saber e nelas nos demorarmos, também nossas pernas se descompassam.
Com o tempo, ganhamos outro ritmo. Nossa mente as acostuma ao mundo daqui e as palavras começam a habitar nossa rotina. A desvirá-la. Uma nova língua abre sempre as frestas de outro lar e cada cômodo é para si todo um espanto de novidade. A língua desconstrói nosso lar para reconstruí-lo num ritmo novo, reinventando-o à medida que suportemos saltar gravidade afora. Cada cômodo era sempre novo, como quando nossos gatos abrem as portas dos quartos sem serem chamados e parecem sempre farejar com seus olhos o peso da novidade. Os gatos têm consigo o olhar curioso de criar novos lares mesmo quando se trata há anos da mesma casa, como as línguas com as quais sonhava. Sonhar com uma língua só minha era a forma infantil de devir-gato, de querer trocar de olhos, de olhar de novo e de novo reencontrar nada, e ser tudo espanto e pasmo, e ser indefinido o instante em que retorno à terra.
Alguns dizem que as línguas funcionam como óculos, colocamo-los e encontramos outro mundo. Como sempre usei óculos, as expectativas eram altas. Quando trocava de óculos e os quebrava quase com a periodicidade de quem fora prometido um novo ticket para seu país preferido, mal sabia minha médica que estaria condenada a continuamente me frustrar. O mundo permanecia o mesmo – eu me solidificava em suas lentes com a mesma insipidez de outrora. Aos poucos me acostumei com eles, assim como também as palavras foram se resignando a conviverem em harmonia num mundo polissêmico. Não há traduções, só polissemias – assim como não há lentes, só câmaras de gravidade.