“Papo de Artista” foi um projeto da curadora Mariana Bahia durante a pandemia, com a proposta de realizar conversas com artistas de diversas áreas. Bahia atualmente é curadora do Parque Glória Maria no Rio de Janeiro e co-curadora do Ano Zero Ágora no âmbito da Bienal de Coimbra. Nesta edição, a convidada é Silvana Marcelina, artista visual e assistente social. Também atua como curadora e educadora, com interesse nas intersecções em política, reflexão crítica e afeto. Sua pesquisa artística se debruça sobre as opressões estruturais da sociedade brasileira, buscando dar respostas críticas assentadas no cruzamento entre as ideias de resistência, afeto e identidade.
“É UM CACHORRO ARTE!”
Maria Luíza, sobrinha de Silvana Marcelina
Mariana Bahia: Boa Tarde! É muito bom recebê-la pra esta conversa. Primeiro gostaria de saber quem é a Silvana Marcelina enquanto profissional. Seus anseios, desejos e reflexões frente a esses novos tempos. Nesse contexto de pandemia, como tem andado?
Silvana Marcelina: Olá, Mariana, obrigada pelo convite! Eu tô bem, embora triste com o falecimento do fotógrafo Januário Garcia, com quem trabalhei desde a metade do ano passado. O Janu foi um amigo e um mestre, mais uma das vítimas da covid apesar dos inúmeros cuidados que tivemos. Pra quem não conhece, foi um fotógrafo incrível que documentou quase a vida inteira a memória e a cultura afrodiaspórica. Pesquisem! O trabalho do Janu é muito necessário. Bom, sobre mim… Sou cria da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu e artes visuais é minha segunda formação. Primeiro fiz Serviço Social, graduação e mestrado. Cheguei a atuar um tempo na área. Arte é algo que veio mais tardio na minha trajetória. A primeira vez que fui num museu de arte já era adolescente e fui por conta de um trabalho da escola. Somente adulta comecei a frequentar museus e centros culturais. Em 2016 iniciei minha formação em artes, então é muito recente ainda. Hoje atuo como artista, curadora e educadora.
M: Quais foram os motivos que despertaram o seu interesse em seguir esse novo percurso no mundo das artes?
S: O trabalho como assistente social é um trabalho puxado… você precisa lidar com as mazelas da sociedade brasileira. Chegou um momento em que eu não queria mais atuar na área. Na minha primeira formação, atuei com educação no campo dos direitos humanos pra públicos diversos, grupos de mulheres, adolescentes e jovens… O lugar da educação sempre me interessou muito. Quando percebi que o serviço social não dava, pensei logo em educação e licenciatura, e eu estava estudando fotografia. Então a fotografia me trouxe pra escolha das linguagens visuais..
Sempre gostei de fotografia, mas em 2013 vi uma exposição do Cartier Bresson. Eram fotografias incríveis sobre fotografia de jazz, blues… Aquela exposição me marcou muito e a partir dela conheci a Lomography, uma comunidade internacional de fotografia analógica. Uma coisa foi levando a outra e quando cheguei nesse dilema eu já estava flertando com artes visuais, e pensei: Então, é isso cara! Eu vou investir numa licenciatura em artes visuais. E fiz uma escolha por fazer a licenciatura e o bacharelado porque a arte contemporânea ou até mesmo as outras linguagens artísticas foram comuns na minha formação.

Eu vim da Baixada Fluminense e lá existem pouquíssimos aparelhos culturais. Hoje encontramos mais. Entretanto, na década de 90, Nova Iguaçu era uma cidade grande em que havia uma dinâmica de sociabilidade bairrista, você vai ao centro da cidade quando tem demandas específicas. Quando não tem, fica no seu bairro. Enfim, muitas barreiras simbólicas, geográficas e culturais, então pra mim foi muito importante o desejo de fazer um bacharelado, porque precisava conhecer e experimentar essas linguagens. E tamo aí!! Aos trancos e barrancos…
Sou da turma da UERJ que pegou greve e pandemia! E acho que foi uma escolha acertada [estudar artes visuais], porque me interessa muito discutir determinadas questões da minha trajetória, que por meio das artes aprendi a ressignificá-las e desenvolvê-las socialmente. A gente é atravessado e provocado o tempo todo: por opressões, por exemplos de resistência e, de algum modo, a gente precisa devolver essas questões elaboradas criticamente pra sociedade. Pra que tensione o debate, tensione os espaços. A formação de artes visuais e o trabalho de educação me permitem tudo isso.
M: Gostaria de saber qual ou quais você acha que foram os gatilhos que, nessa exposição em específico, despertaram em você e te fizeram repensar sua trajetória?
S: Naquele momento, essas conexões não estavam dadas. Elas foram se construindo, fui tateando no escuro. Nessa exposição tinham fotografias… eram clubes, com pessoas dançando, pessoas rindo, bebendo,conversando… Eram fotografias muito vivas. A sensação era a de que eu estava ali num cantinho daquele clube vendo tudo acontecendo, ouvindo aquelas gargalhadas, a música, as brincadeiras e isso me tocou. E não à toa falo sobre resistência e afeto, esse momento na exposição me tocou naquilo que chamo de afeto. O quanto é importante pensar na produção de imagens que mostram a nossa forma de viver. Claro,aquelas fotografias não mostravam uma classe social abastada, eram clubes populares. Quando você se depara com essa produção de imagem, você se sente parte daquilo e se identifica. Lembro que pensava, “Nossa, queria fotografar assim”… E não me considero uma fotógrafa, flerto com a fotografia mas nem é minha linguagem favorita. Cada vez mais estou descobrindo novas possibilidades nas artes visuais.
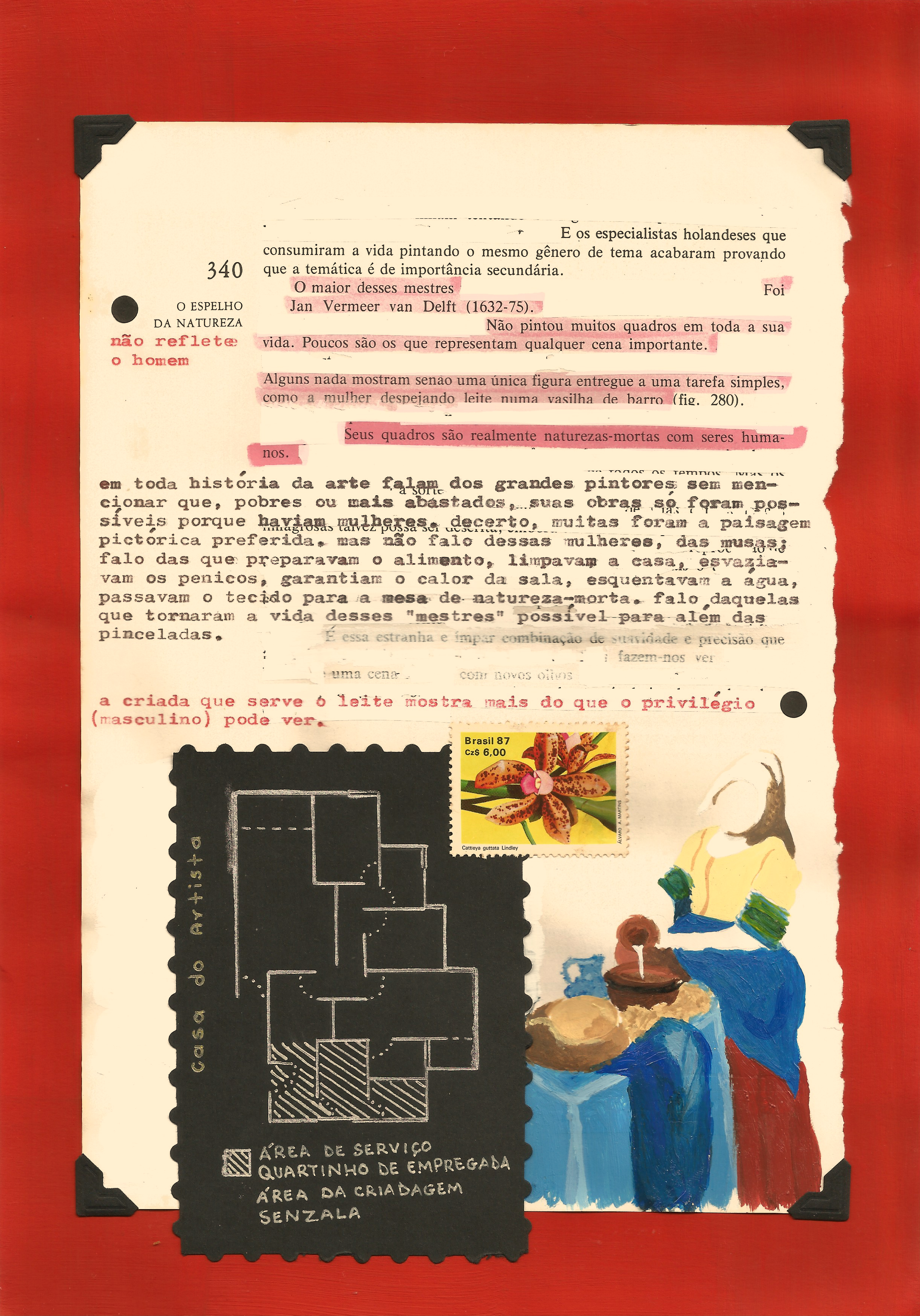
M: Analisando sua trajetória, que passa pelo lugar da artista e da educadora, baseado no que você defende como ‘’afeto’’, como você enxerga hoje a relação entre sua prática de ensino com a sua produção artística?
S: Ainda não havia me feito essa pergunta. Mas tem a ver com a questão da escuta, do diálogo e do cuidado. A experiência no Museu Bispo do Rosário como educadora foi a minha primeira experiência institucional no campo das artes. Foi uma entrada quase que pela porta dos fundos. Porque lá não é um espaço elitizado da arte, e acredito que isso é muito importante.
O museu fica no que foi um dos maiores hospícios do país, além de também ter sido um engenho. É um território atravessado por histórias de violência. Então, o cuidado e a educação são dimensões que precisam andar de mãos dadas com a arte, e não dá pro museu fazer isso só no discurso. E o museu não faz! Ele mantém em suas práticas esse elo entre cuidado, educação e arte. Então foi uma escola muito boa pra pensar as relações e pra aprender que a dimensão do afeto é importantíssima pro campo da arte. Não dá pra ignorar e fingir que não está vendo.
Sabemos que essa discrepância entre o discurso e a prática institucional acontece em outros espaços, mas precisamos dar um basta nisso, no discurso vazio de participação, de inclusão, de abrir espaços de escuta… É uma das coisas que mais ouvimos no discurso: a instituição está aberta, a instituição escuta o território, entretanto as exposições ainda estão sendo produzidas, no campo da pesquisa e da curadoria, sem considerar o campo da educação. E a educação continua sendo a última a ser chamada pra entrar nos espaços expositivos e ver a exposição finalizada.
Como a instituição vai planejar uma curadoria da exposição sem pensar, por exemplo, se tem espaço na expografia pra um banco pro monitor da sala ou pra quem é o responsável por cuidar das obras e do público? São nessas pequenas coisas… E isso também se relaciona com quando você está com o público, com um grupo promovendo discussões e diálogos, tem que haver de fato o exercício de escuta. Isso pra mim tem haver com afeto, o exercício de escuta, de considerar o outro, de considerar a voz do outro. Considerar o que o outro fala. Portanto, não pode estar descolado da educação. São coisas muito imbricadas pra mim.
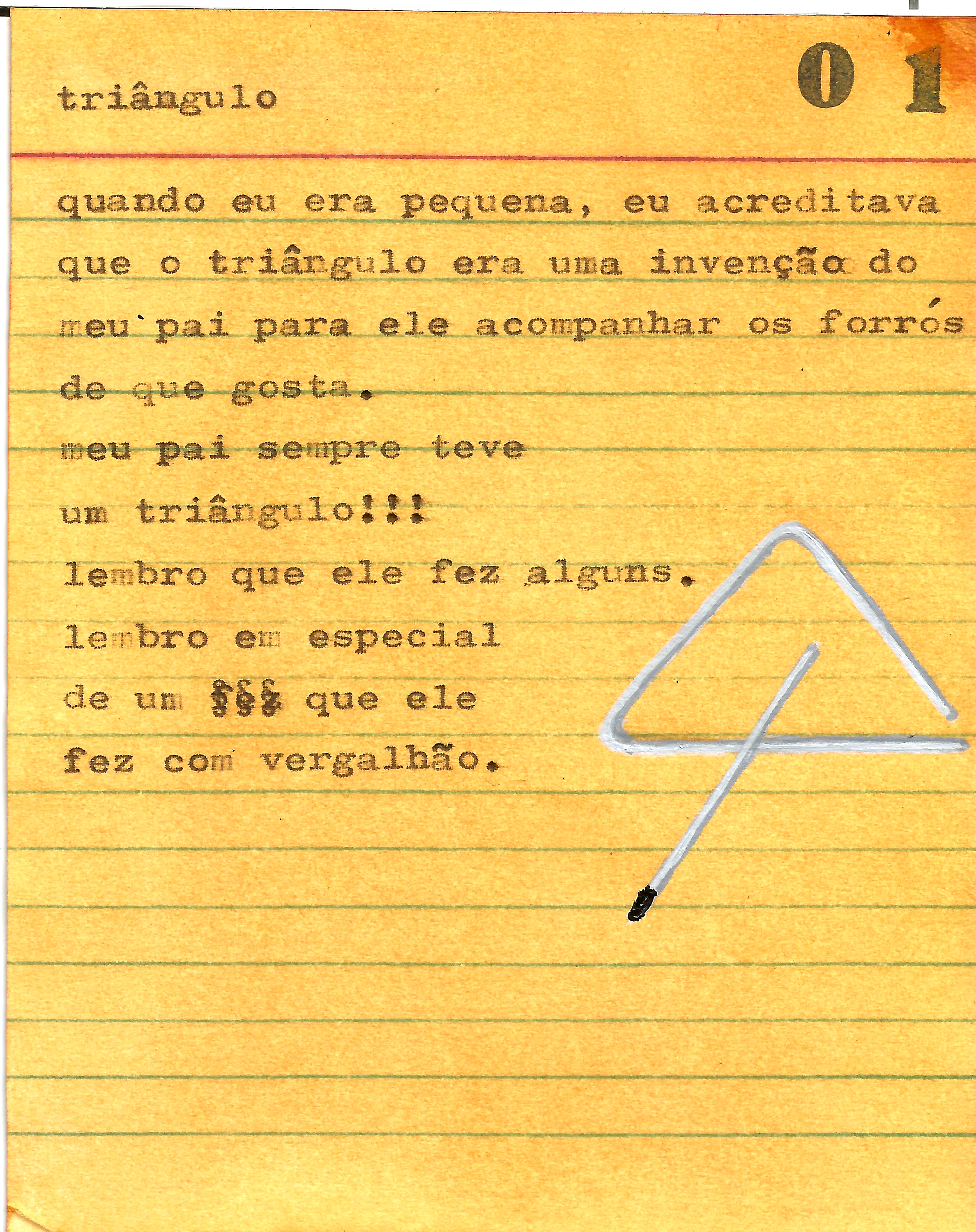
M:Como você acredita que se daria a percepção do público mais jovem na compreensão do valor destes espaços se não houvesse o mediador cultural? Ou melhor, se também não houvesse diálogo sobre essas três frentes: curadoria, obra e mediação?
S: Acredito que há respostas diferentes considerando as possibilidades de atuação. Como curadora, nunca tive ainda a oportunidade de atuar numa exposição de uma instituição de grande porte. Mas na exposição que atuei como curadora, que se chama “Africanizze Performática”, em 2018, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, famoso HO, havia uma educadora. Nós conversamos muito no momento de montagem, pra tentar entender como aquela proposta de expografia dava conta da galeria receber grupos, fluxos e interações. O diálogo é muito importante. Muitos artistas não conversam, mas também muitos curadores não conversam com a equipe de educação. Essa conversa tem que ser uma conversa, não de dizer “ olha o que eu quero dizer com essa exposição é isso”, “e é isso que eu quero que você passe pras pessoas” porque esse não é o lugar do educador. Pelo contrário, o lugar do educador é de provocar o artista, o curador ou a curadora. Tem que ser uma conversa aberta, receptiva a essas provocações. Isso é fundamental e é um exercício. Esses padrões hegemônicos ainda não consideram essas perspectivas. Como educadora, busco provocar a ocupação destes espaços, pela presença nos espaços. Sobretudo, do público que me identifico e entendo que faço parte. O público que não frequenta museus e centros culturais desde criança, o público que pra chegar lá foi um passeio, aquele evento no mês. Tento provocar esse público pra que esse grande evento ocorra de forma natural. Sei que existem muitos atravessamentos, não tenho nenhuma ilusão de que eles irão chegar e o museu será deles. E eu falo, esse museu não é de vocês, mas ele vai passar a ser a partir de agora. No momento em que vocês começam a ocupar e frequentar, colocando a presença de vocês aqui. Provoco esse exercício com um certo desprendimento, acho que isso é importante. Pra não acharmos, por exemplo, que uma escola ou um grupo que recebe ingressos distribuídos de cortesia precisa sempre voltar. Se não retornar, tudo bem.
Eu, particularmente, fui esse público. A primeira vez que fui a um museu de arte foi pra um trabalho da escola no Museu Nacional de Belas Artes. E só fui retornar ao museu quando já era adulta, quase terminando a faculdade. Mas isso de nenhuma maneira diminuiu o valor da experiência de ter ido lá pela primeira vez. Tem um pouco isso, pleitear que ocupem os espaços, mas que eles decidam quais serão esses espaços e em quais eles vão querer permanecer. De algum modo, a presença desses públicos, culturalmente subestimados, tensiona as instituições. Esses dois campos, o da curadoria e o da educação, implicam o diálogo de modos diferentes. No campo em que você está construindo a narrativa que a instituição está apresentando, nesse diálogo com o setor da educação é importantíssimo estabelecer um diálogo numa perspectiva de troca, não de autoridade. Esse não é o lugar dos educadores, não é o lugar da educação museal. Cito o setor de educação porque ele é o setor que a instituição reconhece como aquele que faz a mediação cultural do espaço com o público. Mas é importante dizer que ele não é o único, todo o corpo da instituição realiza essa mediação, em maior ou menor grau. As equipes de bilheteria, de segurança e de limpeza são exemplos de equipes que lidam diretamente com o público e que costumam ser totalmente negligenciadas nas formações sobre as exposições.
Já como educadora, quero provocar o público pra que ele se sinta bem naquele espaço. Pra que essa presença possa ser mais constante e tensione as instituições pra a mudança. Porque esses padrões excludentes ainda estão enraizados. Tem uma discussão já bastante avançada sobre democratização cultural, mas a discussão sobre democracia cultural ainda é muito incipiente. Acho que tensão está sendo a palavra chave nesta conversa, mas é pra gente pensar como os museus acolhem, dialogam e praticam a escuta com os diversos públicos. E que essa escuta não se restrinja somente a uma pesquisa avaliativa no final da exposição. Mas que perceba, por exemplo, se a expografia convida o público a ir embora? Ou se convida a ficar? Porque tem uma expografia que convida o público a “passar batido” e meter o pé. É estar atento a outros modos de perceber as presenças.
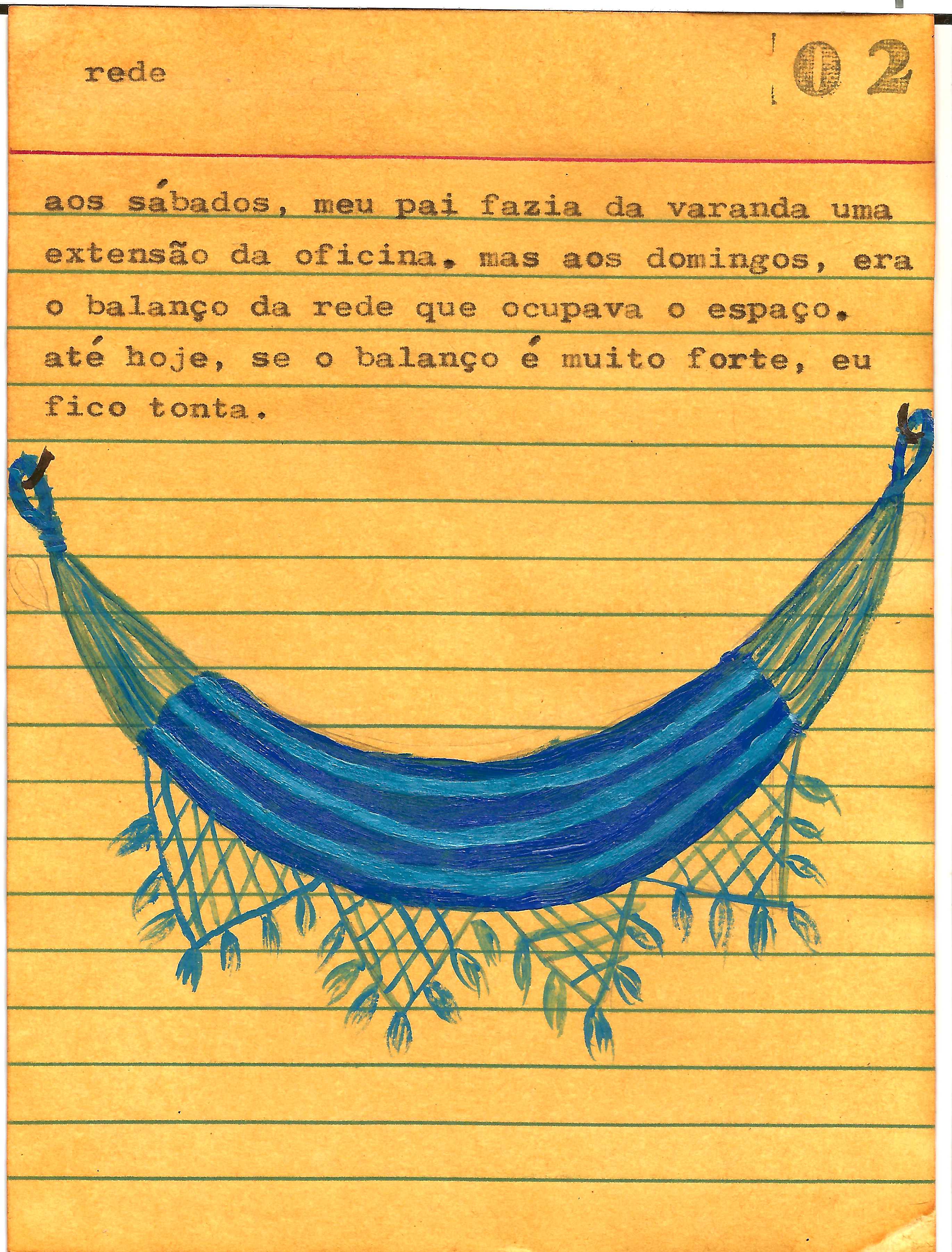
Trabalhei no Museu de Arte do Rio, do final de 2017 até o final de 2019, primeiro como orientadora de público e depois como educadora. Uma das coisas que admirava e continuo admirando nesse museu era a questão do barulho. O museu não tinha uma postura de cercear o barulho nos espaços da exposição. Acho incrível, porque isso tensiona o público em relação à exposição e a como podemos usufruir dos processos estéticos. Existem muitas formas e essa é uma delas. Essa ideia do silêncio é muito elitizada, arraigada e, principalmente, carrega a construção da educação cultural de berço. Pra quem frequenta o museu desde criancinha, é ensinado a não tocar nas coisas pois elas são vistas como ‘’arte’’, quase como um objeto sacralizado. Quando essa criança cresce, já foi introjetado que ela precisa lidar com aquele ambiente no silêncio, sem tocar, como se essa fosse a única forma de usufruir. Do outro lado, você tem todo um outro público que carrega outros bens e expressões culturais de uma forma mais orgânica, pois não envolve essa postura quase que litúrgica dos bens culturais, envolve o corpo, o sensorial. E isso faz parte também de como as instituições estão abertas ou não a outros modos de apreciar arte. Temos quase um dogma: “que a arte venha em primeiro lugar e que dure pra todo sempre, amém”. As regras de conservação falam mais alto do que qualquer outra coisa nos espaços museais.
M: Nessa perspectiva, existe alguma exposição que você se sentiu completamente envolvida?
S: Arrisco dizer que existem duas exposições que me marcaram e dialogam com o que estamos falando aqui, de ‘’visitar o museu com o corpo todo”. Uma foi no museu Bispo do Rosário e se chamava ‘’Das Virgens em Cardumes e da Cor das Auras’’ (2016), curada pela Daniela Labra. Essa era uma exposição que nos permitia a experimentação do museu completa, haviam muitos artistas com trabalhos de performance e os trabalhos que estavam no espaço, que não eram propriamente do campo performático, também evocavam o corpo. Essa, sem dúvidas, foi uma exposição bastante significativa nesse sentido. . Lá também tinha uma instalação em específico, a da Luciana Magno, que era uma projeção dela patinando nua entre as nuvens no céu. Na frente desta projeção, havia um material que fazia essa imensa nuvem, era um monte de fibra acrílica. Aquilo ali era um paraíso pra todos os visitantes… e as crianças amavam ficar naquele céu, deitar, rolar e se esconder nas nuvens. É maravilhoso você entrar no museu e ver as pessoas tendo esse tipo de experiência.
Outra marcante foi “Dja Guata Porã | Rio de Janeiro indígena’’, uma exposição que trabalhei como orientadora de público no Museu de Arte do Rio, em 2017 , com curadoria de Sandra Benites, José Ribamar Bessa, Pablo Lafuente e Clarissa Diniz. Ela tinha uma curadoria coletiva, onde houve diálogo com os diversos artistas indígenas e grupos indígenas presentes na exposição. E era uma exposição que deixava as janelas da galeria à mostra no espaço e nos lugares que não haviam as janelas, colocaram umas frestas na parede artificial que permitiam a entrada de luz natural na galeria. A presença da luz do dia fazia toda a diferença em você experimentava a exposição. Não havia aquela sensação de shopping center, onde você entra e perde a noção do tempo e não sabe o que está acontecendo lá fora.
M: Você já teve a oportunidade de conhecer algum museu ou galeria fora do Brasil? Se sim, sentiu alguma diferença contrastante ao ocupar esses espaços?
S: Já sim! Essa do Bresson eu vi no exterior, em Viena (no Kunst Haus Wien), em 2012. Falando assim parece que sou rica, mas não sou não. Brinco dizendo que sou uma senhora divorciada. Fui casada com um estrangeiro e teve um momento da nossa vida juntos que, por questões de trabalho, meu ex- marido voltou para a terra dele que é a Áustria, e eu estava fazendo mestrado aqui no Brasil. Nesse período fiquei meio lá, meio cá. Morei durante alguns meses em Viena. Lá, a vida cultural é bastante ativa. É um país que tem uma tradição de museu muito grande. Em cada vila minúscula, há o museu da vila, eles tem uma outra relação com a construção da memória, do patrimônio. E eu aproveitei, vi várias exposições. Não tinha essa cabeça de hoje, essa noção das Artes Visuais… E uma das exposições de lá que foi muito marcante pra mim foi a do Fernando Botero, no Kunstforum Wien em 2012, uma individual com obras imensas. O que me chamou atenção nela foram dois vídeos. No primeiro, mostrava ele produzindo no ateliê, como era o ateliê dele. Nesse vídeo tinham dois elementos que foram quebrando um pouco as minhas noções de produção artística, porque eu tinha na minha cabeça vários ideais hegemônicos do artista genial etc. Um foi dele pintando enlouquecidamente e quando vemos a pintura dele é clássica, ele dialoga com as ideias da pintura clássica. Essa discrepância entre o gesto dele da pintura e a obra em si foi muito impressionante pra mim. Outro elemento, foram as esculturas, em que ele fazia o desenho e os moldes muito pequenos e entregava pra uma metalúrgica, onde havia toda uma equipe que ia lá e fazia a escultura gigante. “Ué, mas como assim? Não foi ele que fez essa escultura gigante?” Na minha cabeça, na época, era o artista que fazia todo o processo. Não tinha a noção de uma divisão do trabalho também na produção artística. Em outro vídeo, mostrava ele chegando na sua cidade – ele é Colombiano – e a população local, seus conterrâneos, saudando Botero como se fosse uma celebridade televisiva. Que loucura isso! Como é possível tornar-se, por meio do ofício de pintor, tão célebre? Isso me lembrou um colega de turma que tinha ascendência colombiana, ele era brasileiro, mas tinha um orgulho colombiano imenso e tudo que ele falava era sobre a Colômbia.
Fiquei tentando entender as possibilidades de relação com esse lugar do artista. São duas coisas que fiquei chocada e me perguntando: como isso acontece? Em relação a sentir alguma diferença em ocupar esses espaços aqui e lá fora, te digo que nenhuma. Nenhuma porque esse nunca foi um lugar natural pra mim. Como comentei, a primeira vez que visitei um museu foi aos 16 anos em um trabalho de escola. Pra mim, sempre houve um estranhamento. Havia sim curiosidade, mas principalmente estranhamento. Eu não tinha repertório, o que não significa que não tinha a possibilidade de ter a minha leitura sobre as obras. E os espaços lá não eram muito diferentes dos espaços daqui, era bem a ideia do “cubo branco”, essa ideia permanece… a ideia de como se portar nesses espaços ainda é muito presente. Mas uma coisa que era muito notável lá e aqui a gente não vê, por conta de outras questões também, era a presença constante de escolas. Aqui, a presença das escolas implica um deslocamento geográfico muito maior. A Áustria é um país com uma população pouco maior que a da cidade do Rio, então são outras proporções. Também aqui os espaços culturais estão concentrados nas zonas central e sul, o que aumenta essa discrepância espacial. E lá tinha a presença de crianças do jardim de infância visitando as exposições. Os professores não iam com as crianças de ônibus especial, iam de metrô, de transporte público. É claro que quando você está no espaço e tem uma turma de crianças do jardim de infância tem uma diferença tanto por conta do olhar curioso e ingênuo delas quanto pela liberdade corporal expressiva que as crianças pequenas ainda preservam. Mas ainda sim, não vi lá nada diferente, por exemplo, do que eu fiz como educadora no museu. Era tudo ainda muito regrado, em fila e em silêncio.

Uma coisa que gostaria de ressaltar é que existe um discurso de que tudo na Europa é melhor, mais avançado e incrível, mas muita coisa não. Tem coisas, como os modos de expor arte, que lá e aqui estão no mesmo passo. Por exemplo, existe um artista austríaco que é o Hundertwasser , ele trabalhou muito com arquitetura. Ele trabalhava em uma vertente que era contra a arquitetura moderna, das retas e dos ângulos. Tudo que na arquitetura era qualificado como “perfeito”, ele ia lá e mudava tudo. Então ao andar, o chão estava desnivelado, não existia quina e os andares se encontravam. E você percebe que o Hundertwasser era uma exceção na discussão. Na Áustria, se você quer ter uma experiência diferente, vai na Casa Hundertwasser, porque aquilo tem coerência com o artista, mas nos espaços hegemônicos não vivenciei algo super diferente. Nem em Viena e tampouco nos museus dos outros países que visitei, próximos à Áustria. Mas aqui, enquanto educadora, já fiz muitas coisas maravilhosas.
M: No ofício de educadora, você possui alguma lembrança em especial, das crianças ou jovens, que tenha te marcado? Se sim, qual?
S: Sempre tem! Todo grupo tem e você morre de amores por todo grupo e todas as crianças. Eu gosto muito de conversar, acho que já deu pra perceber… (risos) Por isso também gosto muito de grupos de adultos e de jovens pra vários debates. Mas adoro o grupo das crianças porque elas sempre provocam na gente coisas que a gente não vê. Vou contar uma experiência que tive na exposição Dja Guata Porã Rio de Janeiro indígena, no Museu de Arte do Rio. As crianças entraram e eu estava dando suporte a outro educador. Ele começou a falar e nisso uma das crianças só olhou pro chão e falou: “olha esse chão!” e começou uma movimentação no grupo das crianças olhando o chão e falando. Ninguém prestava mais atenção no que o educador falava. Todos queriam saber sobre o chão. Então nós paramos e falamos: “Olha esse chão!? Vamos todo mundo ver o chão!” Com isso, começamos a experimentar; deitamos, rolamos, cheiramos, ouvimos, sentimos a vibração do chão, porque aquele chão ali do museu era uma novidade. Era um chão de piso de madeira polida e a maior parte do chão da casa das crianças era de um tipo diferente. As crianças ficaram falando das diferenças… enfim foi uma experiência que faz você pensar na potência de experimentar o chão. Quantas coisas descobri naquela experiência que nunca tinha me dado conta! Somos provocados por coisas que antes nós não enxergávamos.
M: Muito interessante isso, todas as pequenas coisas se tornam um grande universo, e legal percebermos que estes espaços nos dão a liberdade de experimentar o mundo. Precisamos manter esse exercício constante, levarmos pra a nossa rotina, o nosso cotidiano, a grandiosidade das pequenas coisas…
S: Agora, por exemplo, sempre quando vou em alguma exposição observo se tem chão suficiente na exposição pra ser experimentado. Pra mim, esse é um dos exemplos das coisas que a curadoria tem que pensar também, não só o setor de educação. Isso faz total diferença.
Lembrei da experiência que tive com a ArtRio. Fui na ArtRio duas vezes. A primeira vez foi no início da faculdade, em 2016, e pra mim foi uma experiência opressora. Eu não me sentia à vontade nos espaços e as pessoas que estavam atendendo na maior parte dos stands da galerias não estavam ligando pra mim e meus colegas, estavam mais direcionados aos possíveis compradores e colecionadores. Foi muito doído isso, porque na nossa turma havia a Lúcia, uma mulher mais velha, na faixa de 50 poucos anos. Diferente de nós, a Lúcia foi muito bem atendida, ela voltou da ArtRio cheia de revista, catálogos. Ficamos pensando se ela havia ido no mesmo lugar que a gente? Não era possível! Eu me senti péssima e nunca mais tive interesse em visitar a ArtRio na minha vida. Quando foi 2019, eu vi que a ArtRio estava com um ônibus com réplicas das obras do Hélio Oiticica e da Lygia Clark e aberto pra crianças. Achei uma maravilha, pois são obras pra se relacionar e experimentar. Logo pensei em levar meus sobrinhos pra essa experiência. E nós fomos, ficamos lá, eles amaram e depois entramos na feira com ingressos de cortesia que um amigo havia descolado. Então, se você se sente oprimido em lugares como a ArtRio, vá com uma criança! Porque faz toda a diferença, a forma como elas olham as obras e experimentam o espaço é outra. Eu tenho dois sobrinhos, são irmãos. E meu sobrinho morre de medo de cachorro, ele acha lindo, mas sempre à distância. Lá havia uma obra da Laura Lima, que era um cachorro de pelúcia realista, minha sobrinha viu a obra de longe, e falou: “Henry não olha pra lá, porque lá tem uma obra que você vai morrer de medo.”. É claro que ele quis olhar e perguntou “mas o que é? O que é?”. Ela grita e diz assim: “É UM CACHORRO ARTE!” Se você está ali e escuta aquilo ali, não tem como… a experiência é outra. Havia uma galeria que tinha um trabalho que era uma amarelinha só que era uma amarelinha de mármore, no chão. Eles viram a amarelinha de longe, saíram correndo e quando chegaram na beirada lembraram que havia dito que nem tudo ali era obra interativa, então tinha que perguntar antes se podia ou se não podia mexer. Eles pararam e perguntaram ao galerista “pode pular?” e ele disse que não podia. Ela disse “Ah, que pena!” e o que ela fez? Ela pulou amarelinha do lado da obra amarelinha. Criou essa amarelinha imaginária. O galerista achou interessante e começou a puxar assunto com as crianças. Ele perguntou: “Vocês gostam de amarelinha? Gostam de brincar na rua?” E elas responderam, “Sim, gostamos de brincar! Mas a gente não brinca na rua não.” Então o galerista perguntou o motivo, e meu sobrinho respondeu: “Porque é perigoso. Às vezes o caveirão passa, então a gente não brinca na rua.” É isso, a realidade dos meus sobrinhos é essa, eles moram numa favela do Rio de Janeiro, eles não têm a mesma possibilidade e mobilidade de brincar na rua que outras crianças de outras áreas. O galerista, então, engoliu seco. O que significa pensarmos nesta obra, que é uma amarelinha em mármore, uma pedra fina, com crianças que não tem a possibilidade de brincar de amarelinha na rua? Não é a mesma coisa ler esse trabalho quando não se tem esse tensionamento. E não estamos aqui pra dizer que a galeria é elitista, não é isso. É simplesmente apontar pras múltiplas formas de viver a cidade que trazem tensão, que trazem outros elementos pra pensar as possibilidades de fruição de um trabalho artístico. Recomendo: frequentem feiras de arte com crianças, melhor experiência da vida!

M: Faz sentido quando você remete esse tensionamento aos espaços mais elitizados das artes. Dessa forma, trazendo pra o contexto da pandemia, onde muitos espaços se encontram fechados, e não somente os vinculados ao meio artístico. Como essa tensão está sendo vivenciada por você e como você enxerga chegando nos seus sobrinhos?
S: A primeira coisa é que a pandemia é um saco! E o gerenciamento político desta pandemia no Brasil é raivoso. Porque estar em uma situação pandêmica não significa necessariamente que a gente precise viver o pior. É uma situação ruim, mas há possibilidade de gerenciamento melhores pra gente viver o menos pior. E esse não é o caso do nosso país. Pelo menos eu avalio desta forma, é um misto de cansaço e de indignação. Meus sobrinhos têm bastante consciência disso, eles sabem que se tivéssemos vacinas num tempo melhor, antes, a gente poderia estar experimentando já outros momentos da pandemia. Acho que ao pensar em perdas ainda estou dentro do grupo de pessoas privilegiadas, que tiveram poucas perdas próximas pra COVID-19.
Janu foi uma das perdas mais próximas que tive. Quando falamos em números de mais de 500 mil mortes, não sei quantos aviões seriam necessários pra matar essa quantidade de pessoas, mas com certeza dezenas. Mas essas mortes não são só um número, elas significam uma ausência muito mais significativa, não é somente pessoal, ela é social também. São pais de família… se pararmos pra pensar, haverá uma geração de crianças órfãs da pandemia. E isso mexe socialmente e culturalmente, não é apenas uma perda. Já temos como exemplo as perdas dos artistas e intelectuais da nossa sociedade. O quanto a gente perdeu pra pandemia, pra COVID? Isso tudo tem impacto. Primeiro penso em não ficar maluca, são duas coisas: sobreviver e sobreviver com saúde mental, que é muito difícil. Mas nos mobiliza muito, raiva, indignação, impotência, ansiedade e medo. Enfim, é difícil! Temos ainda um grande desafio pra pensar não só no momento da pandemia, mas as consequências da pandemia, que não podemos sentir agora coletivamente, mas vamos sentir daqui a pouco, tem um peso, o saldo final é bastante negativo. Pro campo das artes, acho que nos trouxe duas lições super importantes. A primeira delas é das instituições pensarem nas suas relações. A pandemia “demitiu” muitos educadores. E embora as instituições tenham voltado às atividades, não houve a recontratação dessas equipes. Precisamos pensar em como as circunstâncias que estamos vivendo abrem brechas para repensar as lógicas que estavam vigentes até então. E pensar em espaços onde a educação tenha bastante prioridade, porque neste momento de retomada todos nós precisamos ser acolhidos! E um dos lugares mais potentes pra acolher, dentro das instituições de arte, é a educação. .
A segunda é que a arte sempre é uma necessidade, mas nesse contexto de governabilidade de morte a gente precisa estar, de forma muito latente, conectado com a vida. E a arte é um mecanismo pra isso. Então, é pensar também nas possibilidades de fomentar as produções artísticas, as instituições que têm a grana pra fomentar essa criação. Até porque o artista é um trabalhador… Mas agora, mais do que nunca, essas produções são ferramentas super importantes pra estarmos em contato com a vida, com aquilo que nos move no que é de mais fundamental na gente. Existe uma necessidade que precisamos suprir. Arte e educação juntas são formas de acolhimento muito importantes pra esse período que estamos passando e pro que ainda vamos passar, estamos em um processo. Precisamos estar atentos a isso. E os artistas estão produzindo…
M: Silvana, gostei demais! Que nesse momento a arte esteja junta com a vida, que consigamos caminhar sempre com muita esperança, acreditando em múltiplas possibilidades de crescimento e aprendizado, pra a criação de um futuro mais consciente e afetivo. Gostaria de agradecer muito pela nossa conversa. Muito Obrigada!
S: Agradeço muito o convite. Obrigada! É sempre muito bom a gente ser provocada. Gosto que me façam perguntas difíceis. A gente vai se elaborando com as perguntas e aprendendo uma com a outra.




