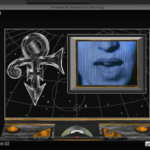O sonho acabou Quem não dormiu no sleeping-bag Nem sequer sonhou Gilberto Gil Who's in a bunker? Women and children first (...)Take the money and run Thom Yorke Mars ain't the kind of place to raise your kids In fact it's cold as hell Elton John/Bernie Taupin
Blue Marble
O presente de natal chegou mais cedo naquele 07 de dezembro de 1972 quando nós humanos pudemos avistar pela primeira vez a imagem cabal da Terra intitulada Blue Marble. Ela não foi a primeiríssima imagem da Terra. Esta aconteceu um ano após o fim da Segunda Guerra, logo depois que os Estados Unidos capturaram os foguetes V-2 (“Vengeance Weapon Two) da Alemanha junto a alguns engenheiros nazistas e os levou – foguetes e engenheiros – para a famosa base desértica do Novo México. Um destes foguetes foi alçado ao espaço no dia 24 de outubro de 1946, conseguindo tirar uma foto parcial, em preto e branco com as resoluções possíveis da época.
Entre essa primeiríssima e a Blue Marble há um conjunto de imagens representativas: a abstrata tirada pelo satélite Explorer VI em 1959, a primeira imagem televisiva do satélite TIROS-1 de 1 de abril de 1960, também estampada na capa do New York Times, a primeira colorida com o americano Ed White “andando” no espaço no dia 03 de junho de 1965, a primeira tirada da orbita lunar no dia 23 de agosto de 1966 e a mitológica paisagem estelar de 1968 criada por Stanley Kubrick em 2001 – Uma Odisseia no Espaço.



Houveram ainda outras nessa interseção de 1967 a 1971 tiradas pelo satélite ATS-III com intenções meteorológicas (leia-se com o subtexto de espionagem). Algumas se juntaram e tornaram-se filme. A Blue Marble não foi nem mesma a primeira Blue Marble. Mas como concluiria o jornalista Maxwell Scott (Carleton Young) ao fim de O Homem que Matou Facínora, quando termina de ouvir a estória do político Stoddard (James Stewart) “quando a lenda se torna fato, imprima-se a lenda”. E o fato tornou-se a Blue Marble de 1972, uma das imagens mais reproduzidas da humanidade.
Nela, três pequenos acontecimentos curiosos. Primeiro, uma certa ironia (divina?) na centralidade da África como continente-raiz de nossa auto-imagem. Segundo, a foto que nos cristalizou uma nova fé filosófica na ciência (leia-se com o subtexto de “verdade”) é manipulada: cropada para sua dimensão ter mais punch visual e invertida para nossa melhor orientação conforme os padrões dos atlas e globos, argumentariam uns, ou para nunca nos esquecermos quem esta acima de quem na escala dos hemisférios, diriam outros. Terceiro, é uma foto, em tese, ilegal: o estoque de 23 rolos de filmes da Hasselblad de 70mm era estritamente racionado, voltado para o objetivo principal de documentar, provavelmente coisas técnicas – eles nem deveriam estar olhando pela janela – e, no entanto, burlaram a lei e levaram pra casa um dos nossos maiores documentos.


Nenhuma das fotos antecedentes tiraram o impacto da Blue Marble. E é difícil mensurá-lo. Esta conseguia dar forma empírica (ou embaralhar) a um conceito de mundo muito disputado desde o hebraico olam dos judeus, o grego kosmos dos primeiros filósofos e o latim mundus dos romanos.
A palavra olam, apesar de ter uma concepção vulgar de mundo, aparece mais de 400 vezes no Tanakh, a bíblia hebraica, e na maioria das vezes tem um sentido original de orientação temporal, podendo ser um período remoto do passado ou do futuro ou simplesmente denotar “perpetuidade”. Na cosmologia aristotélica havia uma distinção radical entre um dentro e um fora – “à Terra, domínio da matéria sujeita a toda espécie de mudanças e transformações, opunham-se os corpos celestes, imutáveis, esferas perfeitas, formadas não como a matéria terrestre”, esta formava-se a partir dos quatro elementos fundamentais – terra, fogo, ar e água. Ou seja, há aí uma diferenciação para além da matéria em si, que denota um sentido espacial. Já o mundus romano, se pegarmos a referência de sua figura mais influente como exemplo, veremos que no livro II do Da Natureza dos Deuses de Cícero as referências de mundus como um Deus, como ornamento, beleza, perfeição são recorrentes. “O mundo é o semeador, e progenitor e pai”. Existe ali uma ideia expansiva de mundo. É a grande moradia dos homens e por vezes é tratada como o universo, aquilo que está ao redor, que engloba tudo.
“Mundo”, esse termo vasto e nublado, parece ter essas ordenações temporais, espaciais e divinas, às vezes, meio-que-tudo-junto-e-misturado durante boa parte da história dos conceitos, certamente no emprego cotidiano de todo mundo. O que nos interessa aqui é tanto o mundo como realidade, como cosmos, um grande universo espaço-temporal, como modo de vida natural, como biosfera e especialmente como isso vem se entrecruzando desde o impacto da Blue Marble. Interessa-nos a percepção – e suas mudanças – sobre esses mundos.
Sean Gaston escreve em seu livro O conceito de mundo de Kant a Derrida (tradução literal minha) que “conceitos de mundo sempre existiram na Filosofia Ocidental, (…) mas pouca atenção se deu ao conceito de mundo em si.” No entanto, na era moderna, “a filosofia foi motivada pelo imperativo familiar, mas difícil, de estar verdadeira e autenticamente no mundo, enquanto também buscava o ponto de vista mais confiável acima e além do mundo como um todo.”
Na guerra espacial, antes dos EUA voou Iuri Gagarin, o cosmonauta russo, e com ele foi possível projetar a Terra como realidade, como imagem, com outro ponto de vista: estando além dela. Ou como disse Levinas de forma um pouco mais poética,
O que talvez mais importa é que ele [Gagarin] deixou o Lugar. Por uma hora, o homem existiu além de qualquer horizonte – tudo ao seu redor era céu ou, mais exatamente, tudo era espaço geométrico. Um homem existia no absoluto do espaço homogêneo. (…) A terra é para isso. O homem é seu próprio mestre, a fim de servir ao homem. Permaneçamos senhores do mistério que a terra respira. Talvez seja nesse ponto que o judaísmo esteja mais distante do cristianismo. A catolicidade do cristianismo integra os pequenos e comoventes deuses domésticos na adoração dos santos e cultos locais. Através da sublimação, o cristianismo continua a dar raízes de piedade, alimentando-se de paisagens e memórias retiradas da família, tribo e nação. Por isso conquistou a humanidade. O judaísmo não sublimava os ídolos – pelo contrário, exigia que eles fossem destruídos. Como a tecnologia, desmistificou o universo. Ele libertou a Natureza de um feitiço. Por causa de seu universalismo abstrato, ele se depara com imaginações e paixões. Mas descobriu o homem na nudez do seu rosto. [1]
Aqui, talvez valha o aviso ao leitor de que essa escrita apaixonada de Levinas é nomeadamente direcionada à Heidegger e à sua empreitada “contra a tecnologia deste século [XX]”, onde “o homem perderá sua identidade e se tornará uma engrenagem em uma vasta máquina que mastiga coisas e seres” e onde, “no futuro” – o que dada a distância do texto, talvez seja nosso passado ou presente – “existir significará explorar a natureza” e “ninguém existirá para si mesmo.”[2] Para Levinas, Gagarin é a carta-trunfo, a imagem da negação da filosofia reacionária de Heidegger e o portal do deslumbramento com o mundo por vir que a técnica possibilitaria.
Esse Leviathan já é conhecido de outrora. Se a Revolução Industrial conflagraria um processo permanente e incessante de micro-bombardeamentos invisíveis-porém-sensíveis à estratosfera, a ponta do capitalismo saberia se configurar como mecanismo de morde-e-assopra. Roger D. Launius ex-historiador-chefe da NASA, nesse ethos tão americano de contar sua própria história, atesta que a Blue Marble “inspirou a reconsideração do nosso lugar no universo”, “tornou-se o grito de guerra dos ativistas ambientais, políticos e cientistas”. Aquela imagem esplêndida transformou a Terra em um “corpo pequeno, vulnerável, solitário e frágil, repleto de vida em um vazio sombrio e sem vida. Embora auto-reguladora e antiga, a humanidade se mostrou uma ameaça para este lugar”.
Mesmo a contemporaneidade doutrinando nosso ceticismo de cada dia, portanto, sempre desconfiando das relações de causa e efeito que a narrativa das grandes instituições tentam apregoar, não consigo imaginar um poder maior de uma imagem. Ela pode não ter disseminado toda uma energia ecológica para uma geração, mas a sensibilidade não “funciona” por estes atravessamentos causais. E tendo nascido num tempo onde as imagens ainda não eram ainda triviais, mas muito perto disso, consigo imaginar que alguma unidade ou coesão ao inconsciente coletivo ela tenha promovido.
Mas esse texto não é exatamente sobre o passado ou sobre uma só imagem. Este texto é sobre o futuro. A Blue Marble já foi atualizada, repixelada e redefinida no começo deste século. Passou de iconografia histórica à viralidade. Não só temos imagens mais up-to-date, como agora manipuláveis, interativas, como um videogame, como o Google Earth. A NASA sempre foi uma precursora da imagem. Quando Kubrick precisou em 1973-4 de uma lente super-rápida nunca usada antes no cinema para planos de seu Barry Lyndon sem iluminação artificialel e descobre que a Zeiss tinha desenvolvido uma Zeiss Planar 50mm f/0.7 especialmente para NASA. As câmeras das naves e estações espaciais hoje tem lentes tele-objetivas tão poderosas que fazem imagens do Lago Alakol no Cazaquistão, do deserto da Namibia ou do pôr do sol das Filipinas como se fosse um drone do céu. Ou abrindo um pouco a lente, um furacão nas Pequenas Antilhas pode ser visto por cima, ou seja, por uma perspectiva não-animal, não-terrestre, não-mundana. Por outra chave: há pouco tempo rodou um meme alterando a banda sonora de um vídeo, onde um astronauta faz algum reparo em sua nave espacial, com a Terra como pano de fundo. O novo off alterado fazia parecer que aquele era só mais um dia, de mais um brasileiro, filmando suas atividades com o celular em mãos. Alcançamos a banalidade espacial.
A morte e a morte…
Em poucos cliques navegando na Amazon acha-se um compêndio de livros do tipo “Aprenda a morrer no Antropoceno”, “Esta civilização acabou”, “A Terra inabitável”, “Shut it Down”, “This is not a Drill”, “Perdendo a Terra, uma História Recente”; “O Fim do Gelo”, “O Colapso da Civilização Ocidental”, “Não há Planeta B”, “All Hell Breakin Loose, perspectivas do Pentágono na mudança climática”, “Clima Leviathan” e por aí vai.
Por um lado, posto assim, quase dá para acreditar no tal suposto alarmismo que certas velhas empresas gostam de ecoar/financiar, agora de peito um pouco mais aberto com um ombro amigo do mais poderoso presidente. Afinal, por trás da tentativa de estremecer o chão dos sonâmbulos, reside um mundo onde a publicidade venceu e o terrorismo vende.
Por outro lado, inclinando minimamente a perspectiva, pode-se olhar para tudo isso com a simples fascinação da redundância. Dentre as três grandes ideias da metafísica iluminista, Deus, o Eu e o Mundo, no campo da teologia, psicologia e cosmologia respectivamente, depois de matar Deus no século XIX e o Homem no século XX, estaríamos vendo a derrocada do Mundo no século XXI?[3]
Não vou me alongar nesta matéria quando tanto já se escreveu com mais consistência e pesquisa sobre o assunto. Basta tomar as palavras de Deborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro em Há mundo por vir? Ensaios sobre os medos e os fins.
Em setembro de 2009, a revista Nature publicou um número especial em que diversos cientistas, coordenados por Johan Rockström, do Stockholm Resilience Centre, identificaram nove processos biofísicos do Sistema Terra e buscaram estabelecer limites para esses processos, os quais, se ultrapassados, acarretariam alterações ambientais insuportáveis para diversas espécies, a nossa entre elas: mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, depleção do ozônio estratosférico, uso de água doce, perda de biodiversidade, interferência nos ciclos globais de nitrogênio e fósforo, mudança no uso do solo, poluição química, taxa de aerossóis atmosféricos. Os autores advertiam, à guisa de conclusão, que “não podemos nos dar ao luxo de concentrar nossos esforços em nenhum desses [processos] isoladamente. Se apenas um limite for ultrapassado, os outros também correm sério risco.” Acontece que, ainda segundo os autores, podemos já ter saído da zona de segurança de três destes processos – a taxa de perda da biodiversidade, a interferência humana no ciclo de nitrogênio (a taxa com que o N2 é removido da atmosfera e convertido em nitrogênio reativo para uso humano, principalmente como fertilizante) e as mudanças climáticas – e estamos perto do limite de três outros – uso de água doce, mudança no uso da terra, e acidificação dos oceanos.
Sob essa luz, a tese anterior de Heidegger não parece tão reacionária assim. Diante de um novo contexto, a empolgação de Levinas em relação ao progresso não parece tão progressista assim. A ideia de progresso nem sempre está ligada a uma linha evolutiva da história que tenha as novas formas de conhecimento como meta teleológica constante. A chave pra esse envelhecimento tropo do pensamento de Levinas se dá na crença de que a tecnologia, como o judaísmo, desmistificaria o universo, ou seja, com o reinado da ciência imperando sobre o obscurantismo da fé, entraria em cena a mais frontal abertura às revelações e aos mistérios do universo. Sabemos hoje que esta ideia positivista era uma ideia com antolhos, de um progresso que se importava em seguir em frente sem enxergar os lados e tudo só se agravou com a decisão de sabotar a nossa tal auto-regulação que Launius, o historiador da NASA, glorificava.
Duomundus

A guerra espacial hoje é quente. As primeiras duas décadas do século XXI viram o surgimento e ascensão das companhias privadas de voo espacial. Jeff Bezzos fundou a primogênita americana Blue Origin em 2000, Elon Musk criou a Space X em 2001; Richard Branson é dono da Virgin Galactic; Robert Bigelow tem a Bigelow Space; Paul Allen bancou a Stratolaunch Systems. Nem todas com a intenção de promover o turismo. Algumas com veia de pesquisa, como a Starshot Project, plano ambicioso de Zuckerberg, Stephen Hawking e Yuri Milner para enviar pequenos robôs até a Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso, o Solar. Outros com o velho intuito exploratório: o cineasta king of the world James Cameron junto ao CEO do Google Larry Page e o presidente executivo Eric Schmidt investem na Planetary Resources, uma companhia que pretende usar navios robóticos para garimpar asteroides; o bilionário Naveen Jain fundou a Moon Express, primeira empresa privada a receber a aprovação do governo americano para viajar além da órbita da Terra. Seu intuito: pousar com um robô na Lua e explorar os minérios lunares.
De todos estes, o que mais desterritorializa nosso conceito de mundo é o projeto de Elon Musk intitulado “tornando humanos uma espécie multi-planetária.” Um projeto de implementação de uma cidade auto-sustentável de um milhão de habitantes em Marte. É um projeto com direito a publicação em revista científica e apresentação à la Ted Talk, como um Steve Jobs apresentando a nova revolução digital, só que no lugar de um Iphone, um planeta. O documento impresso tenta por partes cobrir algumas das principais questões: porque este planeta e não outro, como funcionaria o foguete, a viagem em si, a “arquitetura do sistema”… tudo com uma linguagem didática, dentro do possível para um leigo no assunto se impressionar. Às vezes, com toques de parábolas infantis dissimuladas “Marte está quase metade da distância mais longe do Sol que a Terra [227milhões de km e 149milhões de km, respectivamente], então ainda tem uma luz decente. É um pouco frio, mas a gente pode esquentar” [a temperatura varia de -125° a 22°]. O texto por si só reflete um certo lugar de fala: o tempo gasto no começo para convencer a exequibilidade da empreitada é uma questão substancialmente econômica. Fala de gastos, números, custos de operacionalização. A viabilidade não é somente uma questão filosófica ou até mesmo biológica, mas antes de tudo, de quem poderia pagar pelo serviço.
Elon Musk é conhecido como um bilionário excêntrico com filho de nome esquisito X Æ A-Xii com a cantora Grimes e pelas defesa de ideias “exóticas” no processo de terraformação de Marte: como a instalação de milhares de satélites-espelhos ao redor da órbita de Marte para refletir calor ou até mesmo a detonação de bombas atômicas no planeta para a consequente vaporização das calotas de gelo, liberando dióxido de carbono e produzindo o efeito estufa. O que mata aqui, é germe lá.
O megaempresário talvez seja hoje, no mundo, o homem mais empenhado, e materialmente capaz, a inventar uma nova paisagem do futuro. Não por ser o mais rico, mas por ter como princípio fundador de sua economia uma rede de avanços tecnológicos estruturais sofisticadamente interconectada. Uma paisagem muito ligada a um certo futuro de ficção científica hollywoodiano. Uma paisagem dedicada a investir não só na infraestrutura (“rede 3D de túneis”) e na energia solar, como em inteligência artificial, na simbiose ciborgue e na diminuição das distâncias virtuais e reais entre cidades e continentes – do lançamento de quatro mil satélites ao redor da órbita terrestre que providenciaria internet de alta velocidade a toda população global aos hyperloops, carros e caminhões autônomos e foguetes intra-mundo. Mas como sabemos, os encurtamentos sociais tem consequências políticas complexas. E é sempre bom lembrar que grande parte destas ficções de Hollywood compõe um mosaico distópico.
Por isso é bom termos em mente aquilo a que o capitalismo soterrou como a grande imagem de fracasso do século XX: a ideia do socialismo. Ou melhor, o que falhou não foi o projeto socialista, até porque na prática, a teoria nunca foi exatamente aplicada, mas a construção de sua imagem de utopia. Ou seja, a ideia de que é possível vislumbrar um futuro ideal desdenhando do presente. Este é o ponto que Maio de 68 compreendeu muito bem, assim como os zapatistas, e o movimento anti-globalização e as primaveras árabes e os occupy e o black lives matter… a visão importa, mas o processo é crucial.
Musk não é um capitalista qualquer. Ele adora dizer publicamente, por exemplo, que odeia publicidade. Os seus quase 40 milhões de seguidores no Twitter parecem bastar como proliferação do boca-a-boca afinal a Tesla foi em 2020 a companhia automotiva mais valiosa dos Estados Unidos, superando Ford e GM juntas sem nunca ter investindo em um anúncio sequer. Como Ford no século XX que, graças a sua linha de montagem, conseguiu diminuir a carga horária semanal dos operários e aumentar o salário mínimo, Musk pode vir a ser taxado como o homem a remodelar uma faceta do capitalismo no século XXI, dando um acabamento aparentemente mais humano, um verniz verde com suas atividades “em prol do meio ambiente”. Também como Ford, pode vir a ser um caso clássico de “diga-me com quem flertas e te direi quem és”. Porém isso seria raciocinar por associação ou transferência. O que muda de uma geração à outra é pouca coisa: permanece a ideia da expansão infinita do capital. E se o sonho idílico tinha sido estremecido com a percepção tardia de que os recursos terrestres são finitos, a solução é simples: saiamos do mundo e exploremos o universo.
O problema na verdade está no salto. O erro é de princípios: o verde tornou-se meta porque rentável e só é rentável porque o mundo finda. Pode-se achar que o salto maior – assumir o verde como meta porque o mundo finda – dá no mesmo, mas não. Quando se dá apenas o pequeno salto visando o lucro para ter como consequência o valor agregado do green branding replica-se o estatuto da racionalidade econômica acima de tudo. E é esta racionalidade que só enxerga a troca a partir do custo-benefício é que vem dizimando nossa humanidade e precisa urgentemente ser reinventada. Se deixamos de tomar o mundo como um ente abstrato e tornamos o “meio ambiente” algo concreto, veremos que não há relação possível com uma floresta, por exemplo, nestes moldes. Não se consome a floresta. Nela, dissipa-se a ideia de posse ou propriedade. Pensando numa imagem ainda mais concreta: o governo se preocupa com a Amazônia não porque é um ecossistema que precisa se manter vivo, mas pelos investidores internacionais que vão fugir se eles continuarem a subestimar as queimadas. Isto é o neoliberalismo canibalizando todo o espectro de pensamento e experiência da dimensão humana. A desregulação da economia a partir dos anos 1980 paradoxalmente intensificou exponencialmente a regulação sobre nossas formas de viver, como mostrou a pandemia de 2020/2021 com uma clareza incontornável, sobre quem merece o legado da vida ou o desprezo da morte. A COVID-19 é a prova dos nove de que a vida biológica chega a ser vista, inclusive, como obstáculo ao avanço do mundo, ou seja, ao crescimento econômico.
Mas retomemos o plano master de terraformação de Marte como salvação da espécie. Esta não é uma ideia excêntrica qualquer. Se devemos aprender alguma coisa nos últimos anos com a política brasileira (e não só) é jamais ignorar as excentricidades do poder. O teórico e escritor Douglas Rushkoff, muito ligado a cultura cyberpunk conta-nos em um artigo revelador que foi chamado para dar uma palestra para alguns super-ricos. Rapidamente percebeu que ninguém ali estava interessado na bagagem que ele trazia sobre o futuro da tecnologia. “Eles tinham suas próprias perguntas”.
“Qual região será menos afetada pela crise climática: Nova Zelândia ou Alaska? O Google está realmente construindo um lar para o cérebro de Ray Kurzweil e a sua consciência viverá durante a transição ou ele morrerá e renascerá como uma nova pessoa?” Um CEO de uma casa de seguros explicou que estava terminando seu bunker e pergunta: “como eu mantenho minha autoridade depois do Evento?” “O Evento”: esse era o eufemismo para a catástrofe ambiental, inquietação social, explosão nuclear, vírus imparável ou um hack do Mr. Robot que desligue tudo. (..) Eles sabiam que guardas armados seriam necessários pra proteger suas coisas das multidões enraivecidas. Mas “como eles pagariam os guardas uma vez que o dinheiro não valesse mais nada? O que pararia os guardas de escolherem seus próprios líderes?” (…) Eles estavam se preparando para um futuro digital que tinha muito menos a ver com fazer do mundo um lugar melhor do que transcender a condição humana e se isolar de um perigo muito real e presente das mudanças climáticas, aumento do nível do mar, migrações em massa, pandemias globais, pânico nativista e esgotamento de recursos. Para eles, o futuro da tecnologia é tão somente uma coisa: escapar.
A elite sabe, estúpido! E não é exatamente que ela não se importe com a catástrofe ambiental. Ela simplesmente conhece de perto as engrenagens do poder e reflete por A + B que a saída é fugir. Uma matéria da CNN de agosto de 2019 mostra que bunkers para milionários é um mercado desde a Guerra Fria, mas agora virou mercado de luxo e encorpa a ponto de bala: “cresceu 700% de 2015 para 2016 e mais 300% desde as últimas eleições americanas”. A tese inicial de Bruno Latour em Onde Aterrar? é a de que Trump finalmente acabou com a nuvem de fumaça que restava ao não consentir com o Acordo de Paris. Fez mais do que qualquer acadêmico, cientista ou ativista: agora o jogo fica às claras.
Aliás, poucas ideias são tão imagéticas como o seu grande muro. Alguns governos europeus parecem às vezes almejar sua lida franca com o problema migratório. Um problema bumerangue: quando se ataca o mundo, ele revida. Com o aumento da emissão de gás metano, óxido nitroso, etc., uma hora as geleiras derretem; com a desumanização exploratória das colônias, uma hora o castelo é invadido. E não se espante se houver sangue pelo quintal (ouçam Kimberly Jones e acreditem naquelas palavras: sorte do branco não haver vontade de vingança). A justiça tarda mas não falha. A pequenez humana é muitas vezes não enxergar o gap de gerações.
O historiador Alan Strathern em seu livro Unearthly Powers, se dedica a pensar sobre as transformações fundamentais na natureza da religião e suas consequentes interações com a política ao longa da história do mundo. Ele divide todas as religiões em dois tipos: as imanentes e transcendentes. As religiões imanentes são aquelas primevas onde a cosmologia é relativamente monística, a vida após a morte é relativamente insignificante e o propósito da religião é o acesso a um poder sobrenatural no aqui e agora. É uma religiosidade que tende ao empírico, ao pragmático e ao experimental. Já o transcendentalismo engloba as religiões mais famosas: o Cristianismo, Budismo, Islamismo, Judaísmo, Jainismo, Hinduísmo, Sikhismo e até o Neo-Confucianismo. A interioridade individual começa a ganhar peso diante dos rituais litúrgicos o que corrobora para a formação de um código de ética (os Dez Mandamentos no Cristianismo, os Cinco Preceitos no Budismo…). Nessas religiões uma fenda se abre entre a aterradora mundanidade sem sentido e um reino transcendental. A escapatória dessa existência mundana se dá pela liberação e salvação diante deste outro-mundo. Todas se definem por este objetivo último.
Dentro deste âmbito religioso, voltemos ao cenário da elite global diante do apocalipse: não seria a terraformação de Marte um neo-transcendentalismo imanente? Um projeto pragmático e experimental de salvação mundana? O dinheiro, neste contexto, não seria o poder sobrenatural desse nosso “aqui e agora”, o que permitiria a salvação dos escolhidos? O mundo estaria voltando a ser o espaço da esperança, agora não mais a Terra mas Marte? Se o tempo de Marte hoje, em seu período amazônico, se parece mais com o nosso éon Proterozóico e o homem clama pela ambição e fé de colonizar o planeta vermelho neste século, então a terraformação significa um verdadeiro milagre de condensar algumas eras geológicas de milhões ou bilhões de anos em algumas dezenas. Acreditaria o homo economicus ser ele Deus?
Quando se conhece um pouco, pela imprensa ou Netflix, uma história de vida e morte como a de Jeffrey Epstein, um homem absolutamente crente na força imparável, transformadora e avassaladora do capital, esta última pergunta torna-se automaticamente menos irônica do que se quer. A terraformação talvez seja só o melhor exemplo de uma certa religiosidade materialista que vem sendo cultivada por uma casta herdeira do poder.
Na série de filmes Resident Evil idealizada por Paul W. S. Anderson, o T-vírus se alastra pelo mundo transformando quase toda a população em mortos-vivos. Descobre-se ao fim que tudo foi premeditado para dar um restart no game da Terra. A população mundial rapidamente se degradaria e a nata da elite esperaria numa espécie de Arca de Noé underground. Como já dito, os condo-bunkers já são uma realidade de mercado, mesmo que a etiqueta não permita muita fofoca sobre o assunto. Ursula K. Le Guin tentou ser um pouco mais realista na sua projeção distante em Os Despossuídos onde quem sai fora do planeta de beleza singular e tem que lidar com uma natureza não muy convidativa são os anarquistas utópicos que tentaram a revolução. A elite fica. Em Wall-E a arca de Noé fica no espaço entretendo a humanidade obesa e mórbida por 700 anos enquanto um robozinho faz o trabalho de terraformação da Terra. O futuro é a retomada da nossa própria colonização.
De novo Bruno Latour, no texto Não-humanos serão salvos? pergunta: “De que adianta possuir o mundo se você perder sua alma? De que adianta você salvar sua alma se você perder o mundo? Por acaso você tem outra Terra pra onde ir? Você vai se enviar para outro planeta?” Uns poucos responderiam com o nariz alinhado ao céu: nunca duvide da fé de um pioneiro.
Eu não duvido. Respeito quem olha lá longe. Mas nesse instante do mundo, tem feito mais falta deixar de olhar para trás. É um grande momento para os desbravadores e é um péssimo também. Pelo menos, àqueles com antolhos. Das universidades, às redes, às ruas a década de 2010 talvez tenha sido marcada pela intensificação do debate ao redor da descolonização do pensamento. E isso não é coisa de bolha. Isso impregna. De novo, tem a ver com a sensibilidade. A Blue Marble foi uma grande inspiração. Mas as imagens que fazem aterrar talvez sejam tão importantes quanto as que nos fazem viajar. Sim, Levinas, “o homem existiu além de qualquer horizonte. O homem como seu próprio mestre, a fim de servir ao homem”. Mas hoje parece haver uma grande distância entre os vácuos espaciais. O tempo se reengendra. O conceito de “mundo” ganha alteridade e a própria condição de “homem” como conceito filosófico parece envergar, broxar. Enquanto estátuas de Cristóvão Colombo, imagens de “descobridores”, vem sendo derrubadas com graciosa virulência ao redor do mundo, a elite global busca sua solução numa nova-velha imagem de colônia. Uma que ninguém os julgue, seja embaixo da terra, seja longe da Terra. Esquecem que escovamos a história a contrapelo.
Notas
[1] LEVINAS, Emmanuel. “Difficult Freedom – Essays on Judaism.” p.233. O grifo é meu.
[2] Idem. p.231
[3] Esta ideia não é minha, está lá originalmente no livro de Sean Gaston (2013: ix) e também reelaborado no livro de Danowski e Viveiros de Castro, Há mundo por vir? Ensaios sobre os medos e os fins. (2015: 20).