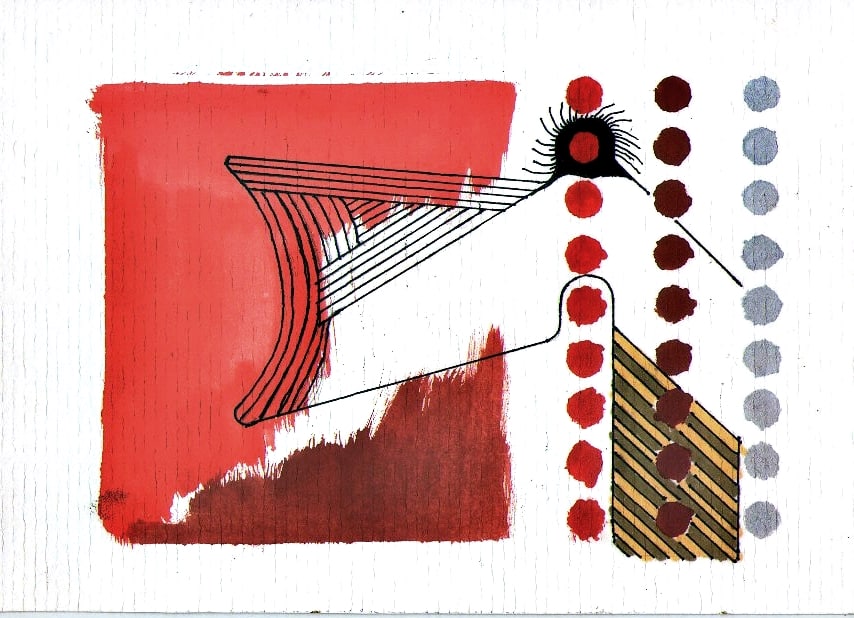Já vi coisa pior, briga de gente não é nada. Vi coisa pior de lá de onde vim e lá em minha casa mesmo. Tinha dias que tinha até vidro quebrado embaixo de porta (e furava o pé, sim senhor!). Sangue e tudo mais pingando por aqui e lá. Depois vinha esfregão e rodo para lavar tudo e a casa ficava quieta de novo, como num passarinho só a piar na copa da árvore que chegava pela janela. E eram nessas horas que tudo ficava mais que calmo que ela vinha a correr para brincar de briga de novo. Mas que diabos! eu sempre acorria de ter esses desejos por ela e me enfurnava embaixo dos lençóis. Mas lá vinha ela com vidro e copo na mão, queria brincar, e queria a mim também, “mas que brincadeira é essa, minha querida?”. Tem que ter gana para brincar com aquela mulher (tem que ter amor também, mas isso já é outro negócio).
De dia ela ia embora e deixava a casa trancada por fora, e eu ficava sozinho andando de lá pra cá e esfregava meus pés no assoalho de madeira (madeira escura que ela tinha escolhido, e eu negava que fosse meu), e eu saía na cozinha para tomar um copo de água e pra olhar o sol recostando nas toalhas brancas que secavam. Pegava um banquinho na sala e trazia para lá, coçava um livro em minhas mãos: folheava as páginas e não lia nada, o colocava de lado, coçava a sua capa, e não lia nada, nem título lia. Arrastava o banco de volta para o seu lugar porque sabia que ela não iria gostar de vê-lo ali, junto com as toalhas brancas. Olhava para o copo de água encostado na pia junto com prato pra lavar, ficava na dúvida se lavava logo ou se deixava ali mesmo. Mas sabia que ela iria querer brincar de briga se deixasse lá, então deixava só para vê-la morder os lábios ao entrar na cozinha e virar os olhos atiçando raiva, desejo, angústia e dúvida, tudo ao mesmo tempo, e depois quebrar o copo na pia e vir correndo atrás de mim, que não demorava nada: me escondia embaixo dos lençóis. Não tinha jeito mesmo, se fosse para brincar de briga era melhor que fosse na cama, e quando a hora era boa era quando ela largava o copo quebrado no chão e já vinha pulando em cima de mim em um gesto só tirando a camisa e calça ao mesmo tempo e agarrava os meus braços me prendendo no colchão, esfregava seu mamilo nos meus lábios, nariz, testa, ouvido, meus olhos fechados e me dava para beijar seus lábios quentes que me agarram pela memória de dias que eram bons: dias de juventude. Ela sabia que ainda tinha tempo para me fazer o que quisesse com a virilha, mas eu a deixava nervosa quando a fazia esperar soltando risos em sua cara, e o rapaz não subindo. Teve um dia que se irritou e disse que eu tinha ficado velho, ri ainda mais na cara dela e fiz o rapaz funcionar, o que deixou ela extasiada vindo para cima de mim como antes, só que só para fazer rir da cara dela o rapaz adormecia de novo, num gesto de desprezo por aquele corpo negro que vinha trazendo memórias de vida dentro de suas marcas e dobras. Mas ela vinha sempre, sempre com o mesmo olhar e no dia seguinte me deixava trancado em casa a mercê de descobrir o que tinha para ver ali, e no final de um mês já sabia de cor todos dos esconderijos dela e todos os cantos sombrios guardados atrás das paredes coloridas de branco que ali tinham. Não-coloridas (era o que ela dizia), “mas não fui eu quem escolheu, quando tiver dinheiro pinto tudo de cor, cor de tudo assim”. E me mostrava um catálogo de cores de tinta que tinha roubado de uma loja. Apontava as cores rindo de todas elas, apontava uma por uma e encostava o catálogo na parede para ver se aquele quadradinho minúsculo combinava com a parede (me mandava dar passos para trás para ter uma visão mais ampla de como ficaria a parede com aquela cor), mas eu suplicava que não sabia, porque aquele quadradinho era minúsculo e era impossível de ter uma idéia de como ficaria a parede. O que no ato a impacientava, e eu continuava a atiçá-la dizendo que não adiantava escolher cor alguma relacionada em papel, que quando se coloca na parede ela muda, e muda para pior, dizia com sorrisos convidativos nos lábios. Mas ela fazia que não via e se virava para guardar o catálogo na sua estante que não tinha nenhum livro de interesse meu, só livros de revista ou catálogos roubados de lojas. Os organizava por nada, só por cores e como iriam ficar na prateleira, como se fossem peças decorativas. E para guardar o catálogo de tinta ela tinha que se abaixar para colocá-lo na prateleira de baixo. E era nessas horas que eu vinha correndo e apertava a sua bunda, reluzente na luz branca. E ela ainda magoada com o que eu falei fingia que nem sentia, então eu colocava o rapaz entre as suas nádegas redondas e a fazia rir um pouco. Depois ela se virava para mim com os olhos fechados e me dava um beijo na boca, daqueles que é só de provocação. “Guarde o rapaz”, era o que ela me dizia. Só nesses dias eu a tinha como eu queria, porque a fazer de ridícula a colocava na minha mão.
Mas esse negócio da tinta da parede não durou muito porque ela tinha sacado o meu jeito já e não se deixava incomodar quando eu a provocava com isso. Então eu passava as tardes a procura de alguma coisa para tirar proveito daquela mulher. Corria as mãos pelas paredes lisas e estantes abarrotadas de catálogos, á toa assim, bem á toa. Foi que um dia achei coisa boa e cocei um livro na minha mão até a luz do sol junto às toalhas. Era livro de escola, de formatura, e tinha foto de um rapaz a carregando pelo braço, depois foto dela com o rapaz sentados lado a lado no palco do teatro: olhavam as pessoas que se entediavam com a cerimônia, sorriam de braços dados; depois foto deles dois dançando juntos na pista de dança; depois foto deles se beijando na porta do teatro. Saindo debaixo de temporal: ele segurando um guarda-chuva sobre a cabeça dela, mas fazendo como que de propósito o guarda-chuva guardar ela mais do que ele, e seu ombro estava molhando com os respingos mais a cachoeira de água acumulada que caía pelo ferrinho que dava a forma do guarda-chuva. E eu sabia daquele plano todo, de ela depois olhar para o seu ombro e sentir ternura pelo jeito cuidadoso dele. Era um pilantra, eu sabia disso. Sabia bem desse plano. Voltava as páginas para descobrir o nome dele. Voltava na foto da turma onde os nomes ficavam embaixo escritos na ordem de que cada um se postava, e o nome dele era logo o segundo, em pé com um sorriso irônico no rosto como que já planejando o plano para aquela noite de formatura, como iria levá-la pela primeira e última vez para sua cama. Eu sabia bem desse plano. E lá estava o nome: Flávio, bem nome de pilantra mesmo, de garoto safado mesmo. E quando ela chegasse eu iria esfregar na cara dela toda essa pilantragem que ele tinha feito com ela e dizê-la que todos os outros homens eram assim: e que eu era o único que tinha ficado com ela até agora, e dizê-la que tinha sido boba de ter ido para cama com Flávio, e que ela tinha se ferrado, e fodido com ele só porque ele queria, e nada era dela naquela história, nadinha. E de repente ela estaria a chorar nos meus braços e me dizendo que era bem verdade o que eu dizia, e que nunca mais iria me deixar ir, e que eu era o único amor dela; e depois a gente iria fazer amor até ela se deitar na cama suspirando de amores e de exaustão. Mas eu não terminaria por aí, ainda estaria mais uma vez disposto de pegá-la por trás e trazê-la mais uma vez a exaustão que suas pernas tremeriam de descompasso. Seria assim. Quando ela chegou em casa eu deixei de propósito o livro aberto na página da foto que Flávio segurava o guarda-chuva. Deixei embaixo da luminária para ainda chamar mais a atenção por causa do brilho da folha barata em que fora impresso o livro. Ela chegou em casa e jogou a bolsa em cima do sofá em que às vezes eu dormia (mas mesmo assim ela jogava, e ia caindo na minha cara se não fosse eu ter acordado com ela batendo a porta e girando as chaves), e depois olhou para a mesa, pegou o livro na mão (e minha cabeça girando em expectativa por um sorriso ou um suspiro ou qualquer reação que fosse) mas ela fechou o livro sem flexionar nada e o guardou na estante, junto com os catálogos de cor amarela. Me levantei exasperado do sofá e a segui até a cozinha onde eu tinha deixado a louça suja, e ela já ia virando para mim com o copo quebrado na mão quando eu fechei a minha cara e coloquei a mão no seu peito meio que como para segurá-la a quê de mim. Depois saí da cozinha e me deitei no sofá de novo com os olhos abertos para vê-la me seguir com o rosto confuso e corando por debaixo de sua pele negra. E ela ainda com o copo quebrado na mão meio que pendendo, a me olhar com seus olhos negros confusos. O que foi?: ela queria me perguntar com os olhos – depois de um tempo comigo a ainda a encarar as bochechas com aquela cor esquisita. “O que foi foi que você nem olhou a foto.” Eu respondi com denga. “Que foto?” ela bem confusa mesmo. “A foto do Flávio!”, e eu me levantei e fui na estante pegar a capa amarela emaranhada num mundo de catálogos. Procurei na página a foto e a esfreguei na cara. Ela se afastou procurando com as mãos o livro que eu segurava. O arrancou de mim e olhou a foto como que preocupada. Ficou assim bem que bastante tempo, depois soltou uma gargalhada altíssima, e se dobrou no chão largando o livro junto com ela, e ficou lá por alguns minutos, comigo a olhando de cima ainda parado sem entender, percorrendo dentro de minha cabeça: o que foi? o que foi? e quando ela parou de rir foi para pegar o livro estatelado no chão e falar (ainda rindo um pouco – o que me deixava profundamente irritado – aquela atitude arrogante) que aquela não era ela, mas sua filha. E eu fiquei achando tudo aquilo muito esquisito porque eu nem sabia que ela tinha filha e achei que ela estivesse a me sacanear ou a tirar o dela da reta com aquela história de ser de afim de me fazer de bobo. Mas na capa estava aquela data que não dizia com nada da minha versão da história. E como eu tinha coçado aquele livro tantas vezes na mão e nem sequer tinha visto aquela data eu não sei. Sei que eu fiquei com cara mais do que ridículo quando ela guardou o livro na estante de novo e me olhava com aquele sorriso de deboche cruzando os braços, meio que esperando uma desculpa, meio que tendo prazer na minha idiotice. Eu virei minha cara e me deitei no sofá de costas para ela, encarando o encosto encardido e fedorento. Mas era melhor aquilo do que aquele sorriso que me matou um pouco, meio que lentamente. Fiquei lá por um pouco, em silêncio, ela em silêncio. Mas depois de um tempo ela veio e foi me chegando por trás e me empurrando para o fundo do sofá até a gente cair no poço escuro daquele lá, e no meio de moedas perdidas, tampas de caneta, elásticos de cabelo, ela apertou a minha virilha enquanto contraía o ventre encostado em minhas costas. E sussurrava no meu ouvido coisas como: “fique calmo meu branquinho, meu amor de luvas brancas, meu lorde inglês” (embora isso fosse viagem dela) e deixava o rapaz na palma de sua mão e nessas horas eu ficava louco, assim, quando ela me pegava por trás e sussurrava ternuras no meu ouvido. E eu a deixava ser dela por àquela hora, me deixava por completo para ela abusar de mim como quisesse. Engraçado: no início da tarde eu pensando que iria dominar o corpo dela por mim naquela noite.
Foi no dia seguinte então: comecei a andar de um lado para o outro (pensando em como essa casa me lembrava a minha mãe e todas as destrezas dela em fugir de mim e do meu irmão, enquanto meu pai corria pela cidade bebendo e chamando as putas para entrar a noite escondido no estábulo (logo do lado do meu quarto) e gritar besteiras chamando minha mãe de velha porca e esquisito matreiro o meu irmão). Tinha dessas coisas: o cesto de jornal, e o relógio de parede: que eram iguaizinhos aos da minha mãe. E eu sentava no sofá com o cesto do meu lado e o relógio na minha frente e imaginava ela entrando pela cozinha olhando para mim com desprezo e saindo para a varanda, para tomar um café e de vez em quando gritar pelo meu pai. Mas ele não vinha mais para ela, assim como minha mãe não vinha mais para mim. E eu esperava ela voltar de sei lá de onde para me fazer na vida dela. E fui pra janela olhar o outro lado de prédios que se erguia por ali. Fazia tempo em que eu não saía do apartamento, e tinha tempo que ela nem queria me ouvir falar de dar uma voltinha ali na praça, ou então tomar um café em alguma lanchonete de esquina. Às vezes sentia falta de algum café ou qualquer outra coisa que não fosse água e purê de batatas, mas parecia que ela só comia disso, trazia pra casa sempre aquele saco de batatas e as colocava em cima da pia para eu fazer o que bem entendesse, e eu, que nunca gostei de batata de qualquer outra forma sem ser pire, as amassava com um martelo de marceneiro (porque nada naquela casa tinha coisas de se cozinhar), e saía assim: lavava a panela, mas antes jogava o leite desnatado (que pra ela só desnatado) dentro daquela panela grande, e misturava a batata amassada com aquele jorrinho branco. To pra te dizer: no final do mês já fazia purê de batatas como se fosse cozinheiro. E gritava “purê de batatas!” sempre que metia a primeira garfada na minha boca e saboreava aquele sabor pastoso lá, jogando para um lado e para o outro com a minha língua, depois engolia aquela massa inteira e me engasgava. Sempre na primeira garfada. Era bom quando ela trazia requeijão para eu incrementar o purê, era sempre depois das noites que eu a fazia bem, e no dia seguinte lá vinha ela com aquele potinho que eu aprendi a apreciar mais do que o sexo depois de um mês. E olha que eu nunca tinha gostado de requeijão, se minha mãe me visse agora dizendo que era melhor do que sexo ela riria da minha cara, ainda bebendo aquele café na varanda, mas eu retribuiria: “ainda ta esperando meu pai, velha burra?” e ainda complementaria com o dele: “velha porca!” e eu tenho certeza de que ela fecharia a cara e viraria de costas para mim para voltar a seu exercício de chamá-lo e gritar seu nome para o ar inerte que pendurava o sol no gramado.
Mas foi naquela noite que tudo desandou então: não sei se foi a história do livro da formatura e minha denguice na cama depois, ou se já estava tudo para ser assim. Enquanto eu olhava a parede escurecer com a despedida do sol eu ouvia ela chegar em casa falando alto (e eu pensando que ela tinha endoidecido), mas não, lá vinha ela junto com um estrangeiro alto que falava um português embaralhado e todo cheio de falsa ginga imitada dos boêmios das ruas. Mas ela ria e ria daquele jeito desengonçado dele, e o trazia segurando pela gravata. E com olhar de vem! entrava em casa de costas e jogava bolsa em cima do sofá (e me acertando dessa vez em cheio porque eu estava comprometido em olhar aquela cena esquisita). Ela entrava cheio de desejo por ele, se jogava em cima da mesa, virava de quatro, esfregava ele todo, e eu no sofá olhando tudo sem entender. Os dois nem me viram, foi bem assim, nem olharam para o sofá, e na minha cabeça já vinha idéia de que ou eu não existia, ou que ela já tinha dito para ele que tinha um sujeito de meia-idade morando na casa dela, assim que era meio de empregado, meio bolsista de amor. E eu fiquei lá vendo ela lamber ele todo e depois tirar o top que apertava os seus peitos para deixar ele ficar de olho na mulher que comia bem em cima da mesa, bem em cima da mesa. Mas quando ele tirou o cacete dele pra fora eu não agüentei: me levantei e fui até o lado dele e gritei no seu ouvido: “o que é isso?”, e ela, que estava apoiada de costas na mesa com as pernas já abertas, se levantava no cotovelo e ria e ria de mim, mais me olhando que de frente, e o estrangeiro fez que não viu, embora a expressão dele tenha mudado um pouco. Mas eu, como nunca fui homem de passar respeito, fui deixado de lado para os dois continuarem aquela coisa meio que esquisita na minha frente. Depois disso ela já não olhava mais para mim, e virava o rosto meio que dizendo: vem! com aquele olhar dela; e o estrangeiro já nem ligava mais da minha presença e dizia “vou te fouder totinha!” e ela ria e ria desse jeito dele. E na minha cabeça não vinha mais nada, só a frase: mas o que é isso? que não funcionava de nada naquela situação. Me retirei e sentado no canto da sala, entre a estante de catálogos e a janela, eu ficava olhando com as mãos enfiadas nos meus cabelos aquela cena esquisita do estrangeiro foudendo a minha mulher toda ali na mesa, assim, sem camisinha nem nada. Depois eu pensava: eita estrangeiro burro também, pegar desconhecida assim na rua e ir com ela pra casa e foder ela sem camisinha, logo assim, é muita burrice mesmo: que ele pegasse todas as doenças que eu não peguei, que ele se visse cheio de perebas no pau no dia seguinte, e o mijo faria tanta ardência dentro daquele canalzinho de estrangeiro que ele iria chorar sentado no chão frio do banheiro daquele hotel barato, que ele morresse de todas as coisas possíveis de se pegar transando com uma desconhecida.
Depois adormeci ali mesmo, naquele canto acolhedor, e de vez em quando, quando acordava, ouvia os dois no quarto que já tinha sido meu e dela: os dois rindo e rindo de si mesmos embaixo dos lençóis que ela tinha vindo me buscar todas as noites (noites que eram minhas), e de vez em quando um gemido, da parte dela, da parte do estrangeiro, da parte dela, do estrangeiro, dela, do estrangeiro, do estrangeiro, dela, dela, dela, dela, e adormecia de novo.
Foi no dia seguinte, no entanto, que as coisas desandaram mais ainda: quando acordei a casa estava vazia, e o sol já batia no meio do tapete. E tinha passarinho piando na copa da árvore que chegava na janela. E eu andando sozinho pela cozinha, me recusava a entrar no quarto onde o estrangeiro tinha me roubado, e nem olhava para a mesa, apesar dela ocupar quase que a sala inteira; e foi numa dessas que eu vi que a porta estava destrancada, longe, longe, e foi aí que meu corpo ficou leve e eu me soltei de um gemido que ainda vai de ecoar pela eternidade por aquelas paredes. Não acreditava, mas atravessei a porta e desci as escadas correndo, meio que cruzando comigo subindo os degraus há alguns meses, e chutei o sol com todas as minhas forças quando pulei na calçada e corri pela praça; fui lá na lanchonete tomar o meu café e pedir todos os salgados que estavam expostos naquela vitrina: “de requeijão senhor?” “não, de requeijão não, odeio requeijão”, e comia e comia, só pra preencher aquele espaço roubado pelo estrangeiro, como se fosse gordo. Depois voltei pra casa dentro de um ônibus fedido e entrei em casa gritando para minha mulher e meus filhos que tinha voltado, mas como ninguém estava lá eu tomei um banho e me sentei no sofá, liguei a televisão e dormi, satisfeito comigo mesmo, tendo como sonho a minha liberdade de volta. Mas quando acordei a tarde, com aquele canal muito gritante na televisão, eu lembrei dela, e aquele meu corpo leve se esvaiu lentamente por entre os berros do homem, e tive uma vontadezinha de correr até o prédio dela só pra saber se aquela porta ainda estava aberta, e se eu poderia entrar mais uma vez pra saber se ela tinha se esquecido do estrangeiro.
Então foi lá do outro lado da rua, em frente aos prédios que se erguiam por ali, que eu fiquei de olho na janela dela, com as luzes acesas, sem ninguém aparecer. Caí de sono na calçada mesmo, e de manhã a vi passar na portaria, falando com o porteiro: tinha cara de muito triste não, tava mais para a mesma cara de sempre. Mas lá de cima da janela estava o estrangeiro, fumando um cigarro, olhando o mar de prédios, e pensando, pensando. E eu rindo comigo mesmo, porque sabia o que o estrangeiro pensava naquela hora, sabia bem no que estava pensando, sabia bem. E eu, chorando de rir, dizia em voz baixa: ah estrangeiro burro, não perde por esperar.