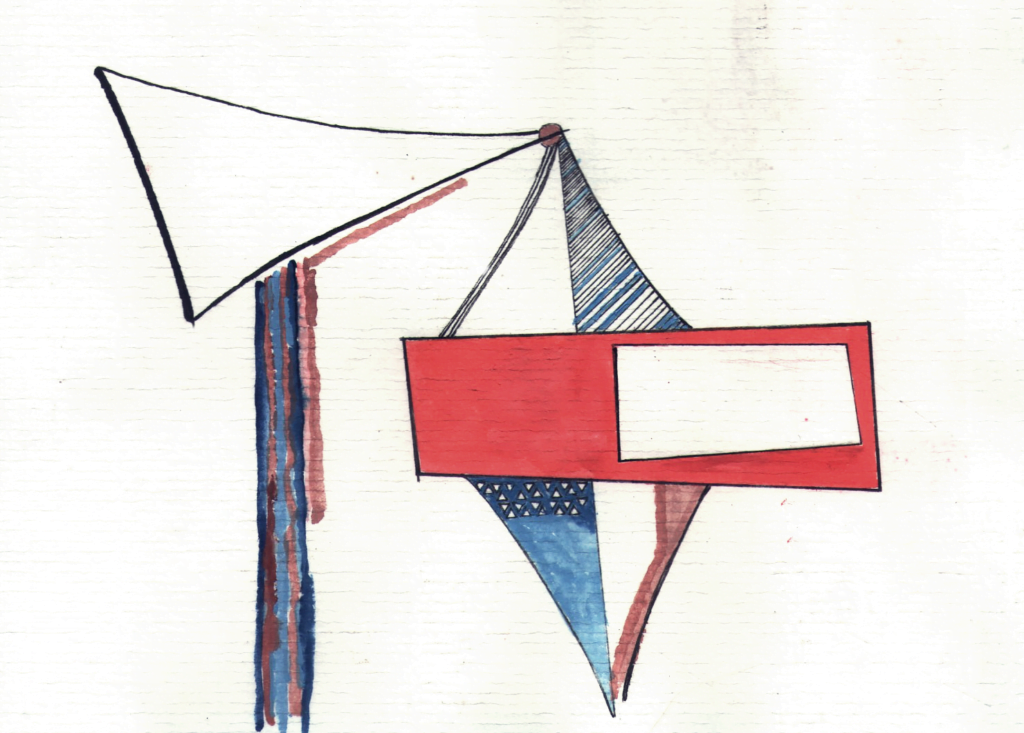Já declararam há algum tempo a opressão dos museus e dos espaços culturais e soubemos disso, muitas vezes, através do que se expôs em espaços museológicos. As críticas institucionais estão todas instituídas, asseguradas e reservadas dentro da oficialidade. Acreditaram deter a visibilidade. A instituição detém a visibilidade? Não. O poder instituído detém o valor ficcional do visível, mas o visível nele mesmo está atravessando-nos continuamente. É este visível qualquer, essa conjunção de olhares citadinos que falta à arte. A criança não conhece arte e, no entanto, sua relação com o mundo está imersa na artisticidade. Tudo é plástico na despretensiosidade.
Criamos a história da arte e pouco depois declaramos seu fim. Toda a consciência histórica enxergou-se débil, inútil. E o que fazemos com a arte agora? Tudo é arte (quem dirá que não?) e ainda insistimos em garantir espaço para alguns. Ainda conhecemos os nomes dos artistas contemporâneos. Deveríamos, no mínimo, desconhecê-los por uma arte nova (não falo de ruptura no sentindo modernoso da coisa). E o que é a arte indistinta senão o mundo, o movimento do mundo?
A rua é o corpo. Mais uma vez, quero dizer: na rua é a experiência artística que me assiste, sou seu acessório de exibição. No fluxo frenético sou incapaz de distinguir uma experiência da outra. E, no entanto, há de se ter muito cuidado. Não falo da obra de arte pública, o que é por si uma grande redundância quando se pensa que não existe arte que não seja pública, ou seja, que não se conceba enquanto potência comunicativa entre gente. E, por outro lado, nenhuma arte é pública quando entendida como experiência singular e fenomenológica. Nesse sentido, é nesta fratura consensual que a rua faz-se como campo de forças para a arte anônima ainda possível por ser o lugar da fragilidade, do desencontro, e paralelamente, do acaso aglutinante.
A questão, portanto, não é o objeto-experiência-performance já assegurado pela instituição e instaurado no espaço público – ou seja, fora do cubo branco, a mercê das intempéries, fazendo uso das contaminações do espaço externo, embora conceitualmente esteja simplesmente deslocado, sem grandes revoluções – mas mais que isso, a experiência artística que brota do germe urbano enquanto tal, o atravessamento inominado e indistinguível do resto de espectros e fantasmas do caminho.
A cidade me objetifica e me vitriniza. Ao mesmo tempo, sou mancha e dispersão – apreensão fragmentária: esta anamorfose, fadada ao desaparecimento e à impermanência, é artística.
Noutra época em que afrescos, estátuas e danças ritualísticas nutriam um regime estético indiferenciado da vida, ainda que muitas vezes dogmatizado, penso haver mais política do que a arte mais engajada de hoje.
Tudo já foi feito em nome da arte, deveras. O problema está em fazer em seu nome. Falo de uma arte que não se afirma porque conhece os caminhos da autoafirmação. Seu não reconhecimento é o subterfúgio que sustenta a sua potência política. Dentro desta dinâmica, não julgamos formas plásticas segundo a produção histórica ou a tendência contemporânea, somos rapidamente capturados pela experiência e, se não somos capturados, não sabemos. Só a conhecemos quando estoura. Sem bom ou ruim, a arte só se manifesta quando arte.
Essa concepção jamais destruirá qualquer sistema institucional de arte muito bem entendido hoje. Não é seu objetivo. Sabe-se que substituir o fluxo artístico oficial por uma concepção misteriosa e cigana, filha da pele das cidades, evocaria uma ruptura desprezível, presa fácil e engolível pela avidez imagética do nosso tempo.
Não queremos construir nem imagens nem arte. Continuarei andando pela rua como quem espera ser arrebatada pela fresta artística do submundo para imediatamente vê-la escorrer pelos ralos.
Na rua é difícil ser a senhora da opinião. Na galeria é concebível.……………..