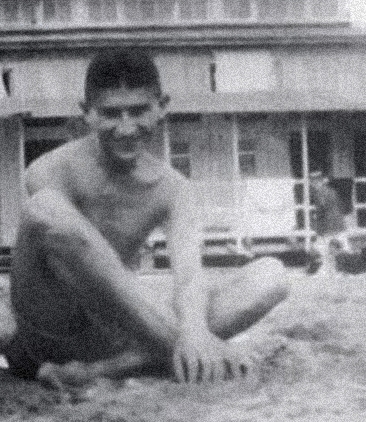Há um tempo, vi uma curiosa foto de Kafka em que, contrária à imagem que se costuma ter dele, aparecia com um sorriso muito expressivo. Encontrei mais três ou quatro imagens em que Kafka sorri. Devo reconhecer que a imagem produziu em mim uma sensação inquietante: por que sorriria Kafka, a figura do “intolerável” (Borges), em cuja escrita os delírios e os horrores do século XX pareceram codificar? Acaso não é a obra de Kafka o maior exemplo da morte de Deus, da opressão e alienação da sociedade industrial contemporânea e das questões edipianas não resolvidas com o pai? Sinto que esse desconforto surge dessas leituras demasiadamente incrustadas sobre Kafka, os “sequestros interpretativos” de que falava Susan Sontag. Como se Kafka não pudesse sorrir.
Talvez tenha se feito de Kafka o mesmo que com K. Ao final de O processo, diz o narrador: “como um cão, era como se a vergonha lhe devesse sobreviver”, como se a potência da obra de Kafka pudesse se reduzir à vergonha de ser humano perante à queda das âncoras transcendentais da modernidade. Uma espécie de símbolo do “absurdo de nossa sociedade”. Ou, de outro ponto de vista, o filho ilustre da “literatura menor” (Deleuze e Guattari), onde se desenrolariam linhas de fuga e novas relações rizomáticas (que se estenderiam aos corredores da academia, em que as forças nômades encontraram um lugar curioso para rondar). E ali está Kafka, sentado ante à lei da tradição literária.
Evidentemente, este texto não escapa dessa pulsão de inscrever uma exegese no corpus kafkiano, assim como a lei se inscreve no corpo dos presos da colônia penal. Ainda, todos os choques teóricos que este texto tenta desvendar se embaraçam à esquisita criatura que é Kafka (ou Odradek?). Por esta razão, penso que a potência de sua obra consiste em algo mais simples, mas não menos potente. Uma espécie de irredutibilidade a qualquer discurso: a inconsistência basilar em seus textos, o enigma que faz que cada obra não se feche completamente e o “mutismo da letra” (Rancière) que não impõe um sentido para decifrar. Desta maneira, o sorriso de Kafka seria a figuração de todas estas tentativas de manter no seio da significação a nebulosa do sem sentido, a liberdade para que qualquer um entre nas vielas de O castelo, nas brenhas e confusões cotidianas, nas portas solitárias da lei, no ponto em que, para cada um, como leitor, possa emergir toda pergunta sobre si mesmo.
Talvez se trate de um sorriso “cético” diante das certezas do sentido. Um sorriso contra seus próprios intérpretes que acreditam amarrar e submeter ao controle hermenêutico o sentido último que enlaçaria a obra kafkiana.
Mas este é o silêncio de sua obra – arma das sereias, muito mais poderosa que a inútil cera da teoria –, onde há uma abertura para que outra coisa fale, se incomode ou sorria. Livre das certezas, o sorriso de Kafka se choca contra a saturação de sentido que opaca todo futuro possível. Ou, também, um sorriso que é o resultado dessa “meditação paciente sobre o Poder” – como disse Pablo Oyarzún em um de seus ensaios sobre Kafka –, de modo que por meio de sua escrita pudesse apontar, em instantâneo, uma rachadura no edifício do poder.
Esse sorriso, talvez, seja o rastro de uma “paixão alegre” (Spinoza), um mutismo ativo no coração de toda obra literária, o indício de um impossível que “não para de escrever”, para roubar uma frase de Lacan. Seria essa, então, a beleza desse inquietante sorriso: a possibilidade de que nada esteja definitivamente fechado para sempre, que não haja um sentido absoluto das coisas, mas uma contradição feliz, rebelde, que nenhuma teoria poderá oprimir. Ou, para parafrasear Kafka em seu último conto, se trata de um “sorriso dessa astúcia [com que] pretendemos nos consolar de todos os problemas” (Josefina, a cantora…).