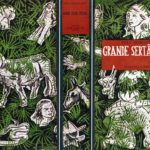Este verso, apenas um arabesco
em torno do elemento essencial – inatingível.
[…] não mais que um arabesco, apenas um arabesco
abraça as coisas, sem reduzi-las”.
(ANDRADE, C. D. Fragilidade.)
O título desta breve fala¹ introduz, de modo deliberado, um anacronismo impossível de se realizar. Mas anacronismo, aqui, não diz apenas de um “erro de cronologia que consiste em atribuir a uma época ou a uma personagem ideias e sentimentos que são de outra época”.² O erro deliberadamente proposto não visa atribuir a Platão o uso de arabescos. Antes, proponho o anacronismo como um recurso heurístico e, assim, uma ferramenta que pode nos fornecer uma visão oblíqua a respeito de Platão.
Surgida na língua italiana do século XVI, derivada da palavra “árabo”, sinônimo de “árabe”, arabesco é uma palavra de classe gramatical ambígua. Tanto pode ser usada como adjetivo, com o significado de algo “relativo aos árabes”, algo “à moda árabe”, como pode ser um substantivo. Como substantivo, a palavra arabesco designa um ramo da arte dos povos árabes onde são utilizadas determinadas formas geométricas que, entrelaçadas, apresentam figuras complexas. Gostaria que essa frase ficasse retida, pois, daqui daremos um salto regressivo a Platão. Qual frase, então? Formas geométricas que, entrelaçadas, apresentam padrões complexos.
No passo 152d-e do diálogo Teeteto, a personagem Sócrates parece apresentar uma espécie de diagnóstico de como a tradição, bem como os seus contemporâneos, se relacionavam à tese de Protágoras, a saber, de que “o homem é a medida de todas as coisas”. Lemos:
Mas é da translação e do movimento, como também da mistura umas com as outras que devêm, todas as coisas que, não usando a designação correta, afirmamos ser; é que de fato nada é, de modo algum, mas sempre devém. E, sobre isso, reúnam-se todos os sábios, sucessivamente, exceto Parmênides:
tanto Protágoras quanto Heráclito e Empédocles; e, dos poetas, os ápices de cada um dos dois gêneros da poesia: da comédia, Epicarmo, e da tragédia,
Homero”.³ (Tradução de Fernando Rodrigues e Maura Iglésias)
A tese de Protágoras é altamente problemática não só do ponto de vista epistêmico, mas como nota Luisa Buarque em As Armas Cômicas, referindo-se à discussão contida não no Teeteto, mas no Crátilo, ela (a tese) enseja uma concepção de que se “o homem é a medida de todas as coisas”, então também é a medida da linguagem. Assim, “se as palavras podem ser arbitrariamente atribuídas, utilizadas, trocadas, então todo discurso é verdadeiro, à medida que exprime sempre – e também unicamente – a verdade de cada um, ligada à sensação individual”.4
Não é difícil perceber, sobretudo no Brasil atual, quais seriam as implicações tanto éticas quanto políticas desta concepção. Do ponto de vista ético, se o homem é a medida de tudo e, portanto, se todo discurso é verdadeiro, então o relato de Sócrates na Apologia, de que os atenienses “não enunciaram uma só palavra, ou quase nenhuma, verdadeira”5, quando teceram juízos sobre ele, deve ser visto de forma jocosa, na medida em que as palavras dos atenienses a seu respeito seriam tão verdadeiras quanto as suas a respeito de si mesmo.
Do ponto de vista político, pensemos na afirmação de Trasímaco, na República, quando disse que “o justo não é nem mais nem menos do que a vantagem do mais forte”6. Se o homem é a medida, então, a cada vez, com cada grupo político que assumisse o poder e, portanto, se mostrasse como o mais forte, a verdade e as leis girariam em torno de uma medida, de um critério particular, e que com muita frequência se destinaria a favorecer apenas o grupo político vigente, o que nós hoje chamamos de situação. Como nos lembra Marina Mccoy, “os muitos têm uma variedade de opiniões sobre o que é justo, e quem for mais forte domina a batalha pública para definir o sentido do termo justiça”7. (Nos soa familiar, não?)
Como o título do poema de Drummond, Platão parece ter percebido a profunda fragilidade de um mundo pautado apenas pelos critérios dos desejos, das opiniões, e das vontades individuais. Mas não apenas frágil. Uma realidade nascida da experiência protagórica também pode ser incomensuravelmente terrível, onde o aparentemente mais justo dos homens atenienses, Sócrates, pode ser condenado à morte. Diante deste panorama, uma pergunta que surge e que, segundo o que penso, Platão tentou responder é: como postular um critério que ultrapasse a nossa opinião a respeito da realidade? Um critério que não seja referenciado por nós, mas que, antes, sirva de referência? Se a tese do “homem como medida” implica, dentre outras consequências, a conclusão de que a linguagem é simplesmente artificial e pode exprimir apenas verdades individuais, então a busca por uma medida calcada na vida (na realidade) deve implicar, em um duplo, a consequência de que há uma linguagem que não é artificial, mero convencionalismo, e nesse sentido seria mais própria para exprimir verdades não devenientes ou eternas.
Creio que todos nós, estudantes de filosofia, já tenhamos ouvido, nem que seja apenas uma única vez, a célebre frase encontrada no pórtico da Academia de Platão:
“Quem não for geômetra, não entre”. No passo 48b do Timeu, lemos:
Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra, bem como os comportamentos que tinham antes disso; na
verdade, até agora ninguém revelou a sua origem, mas discursamos como se nos dirigíssemos a quem soubesse o que possa ser o fogo e cada um dos
outros elementos, dispondo-os como princípios e letras do universo.8
A palavra que a personagem Timeu mobiliza para “letras” é ζηνηρεῖα, a mesma que a personagem Sócrates utiliza, por exemplo, no âmbito do Crátilo, no passo 393d, para dizer que “nós falamos os nomes das letras e não as letras mesmas”9. Nesse sentido, Timeu estaria nos dizendo que cada um dos elementos (fogo, ar, água, terra) é tal como uma letra. Mas no passo 53c, a personagem nos diz que “o fogo, a terra, a água e o ar são corpos” e “tudo o que é da espécie do corpo tem profundidade”. A profundidade, por seu turno, envolve “necessariamente e por natureza, a superfície; e uma superfície plana é composta a partir de triângulos”. 10
Por uma série de deslocamentos a personagem aproxima, em primeiro lugar, os elementos às letras e, posteriormente, as letras aos triângulos. Desse modo, talvez pudéssemos dizer que, para Platão, o alfabeto com o qual o universo foi escrito tem como letras, os triângulos. Do passo 54d ao 55c do Timeu, a personagem descreve como as combinações entre triângulos formam os cinco sólidos geométricos platônicos, a saber, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o hexaedro, e o dodecaedro. Como observa Rodolfo Lopes:
através da combinação dos triângulos-base (retângulo, equilátero e isósceles), mediada pela proporção, a geometria em plano passa a esteriometria
tradicional, dando assim corpo às formas representáveis mentalmente e de forma abstrata. Em suma, ao apoiar-se nos ramos matemáticos da aritmética e da geometria, a mensagem teológica pode tomar corpo e tornar-se uma física filosófica, pois permite representar aquilo que não pode ser alcançado pelos olhos.11
Através do uso combinado da aritmética e da geometria, “a harmonia do mundo se manifesta na forma e no número”. Uma vez manifestada, então as palavras de Sócrates, no Livro IX da República, de que “no céu talvez haja um paradigma para quem quiser contemplá-lo e, de acordo com ele, organizar seu governo particular”12, talvez devessem ser interpretadas de modo literal.
Mas aqui, algo acontece. Se é no âmbito do diálogo Timeu que podemos observar não só a formação do céu visível, mas mesmo o aquém-além-céu, esta dita literalidade surge (não por acaso, mas justamente como refutação dele) em um texto de caráter poemático, isso é, onde a forma do texto e as afirmações que o atravessam parecem estar consubstanciadas. Se o elemento mínimo da realidade, para Platão, são triângulos, então também a primeira frase do Timeu já parece apontar para isso. “1, 2, 3…”, uma espécie de ritmo que parece ecoar por cada mínimo elemento do diálogo. Três são as personagens que efetivamente tem voz no diálogo, a saber, Sócrates, Crítias e Timeu; três são os existentes em estado pré-cósmico (Ideias; Demiurgo; Khôra); três é o número de vezes em que, no âmbito dos discursos, o diálogo é recomeçado; três é como os assuntos parecem estar dispostos ao longo do texto (conversa do dia anterior – passado arcaico; obras geradas pelo intelecto; obras geradas pela necessidade); três são os gêneros harmonizados na alma do mundo; tripla é a divisão da alma, etc.
Se a physis emerge de combinações entre triângulos, então também o espaço textual do Timeu parece emergir a partir de combinações análogas e, nesse sentido, “sendo precisamente expresso, ele está submetido à lei exata da forma que lhe corresponde e à qual deve corresponder”13. Desse modo, Platão não representa um cosmos nascido e permeado por mímesis, mas, antes, faz com que o próprio texto do diálogo seja esse cosmos em abertura, mostrado em estado nascente a partir de um mimetismo infindo capaz de relacionar tudo e ocasionar a morfose das formas. Como nos lembra Blanchot:
[…] antes de ser falas determinadas e expressas, a linguagem é o movimento silencioso das relações, isto é, a escanção rítmica do ser. […] o espaço em que as palavras se projetam e que, mal é designado, se dobra e redobra, não estando em nenhum lugar onde está. O espaço poético, fonte e resultado da linguagem, nunca existe como uma coisa: mas sempre se espaça e se dissemina.14
Assim, a refutação da tese de Protágoras é alçada a outro nível, pois Platão não a refuta simplesmente justapondo outro discurso e postulando, de modo arbitrário, outro critério. Ao fazer com que os triângulos ecoem na materialidade da vida e do texto, atravessando, deste modo, a concretude das realidades particulares, Platão torna manifesta tanto a linguagem, quanto o âmbito para o qual a medida deve ser deslocada. A linguagem é a combinação entre a aritmética e a geometria, e o âmbito é a própria vida. Mas se tudo que é e há é formado por elementos, que por seu turno são transformados em triângulos, então esta vida para a qual gostaria de chamar atenção não depende de nenhuma interpretação individual, não se mostra segundo opiniões particulares, não é exclusivamente deveniente e, deste modo, tampouco o homem poderia ser a medida da verdade e da linguagem que a regula.
Como uma linguagem que permeia tudo, parafraseando o poema de Drummond, somente formas geométricas entrelaçadas abraçam as coisas, sem reduzí-las. Platão mostra que podemos reconhecer a existência das ideias a partir do fluxo ou do devir. Assim, a refutação da tese de Protágoras não passa pela negação da realidade vigente, mas antes por uma transformação no olhar para essa realidade. É preciso, sobretudo, aprender a entrever. Inscrita no pórtico da Academia, a famosa frase já operava uma mudança no olhar, pois obrigava quem a adentrasse a mudar de perspectiva. “Quem não for geômetra, não entre”. Obrigada.
Notas bibliográficas
- Texto lido no âmbito da Semana dos Alunos de Filosofia da PUC-RIO (SAF PUC-RIO), em 23-08-22.
- Grande Dicionário Houaiss.
- PLATÃO. Teeteto. §152d7-e5. “ἐθ δὲ δὴ θνξᾶο ηε θαὶ θηλήζεωο θαὶ θξάζεωο πξὸο ἄιιεια γίγλεηαη πάληα ἃ δή θακελ εἶλαη, νὐθ ὀξζο πξνζαγνξεύνληεο· ἔζηη κὲλ γὰξ νὐδέπνη‘ νὐδέλ, ἀεὶ δὲ γίγλεηαη. θαὶ πεξὶ ηνύηνπ πάληεο ἑμῆο νἱ ζνθνὶ πιὴλ Παξκελίδνπ ζπκθεξέζζωλ, Πξωηαγόξαο ηε θαὶ Ἡξάθιεηηνο θαὶ κπεδνθιῆο, θαὶ ηλ πνηεηλ νἱ ἄθξνη ηῆο πνηήζεωο ἑθαηέξαο, θωκδίαο κὲλ πίραξκνο, ηξαγδίαο δὲ Ὅκεξνο”.
- HOLANDA, Luisa Severo Buarque de. O Crátilo como guerra hiperbólica. In.: As Armas Cômicas. p. 29.
- PLATÃO. Apologia de Sócrates. §17b6-7. “νὗηνη κὲλ νὖλ, ὥζπεξ ἐγὼ ιέγω, ἤ ηη ἢ νὐδὲλ ἀιεζὲο εἰξήθαζηλ”.
- Idem. República. §338c1. “θεκὶ γὰξ ἐγὼ εἶλαη ηὸ δίθαηνλ νὐθ ἄιιν ηη ἢ ηὸ ην θξείηηνλνο ζπκθέξνλ”.
- MCCOY, Marina. O desenvolvimento dialético do filósofo e do sofista na República. In.: Platão e a Retórica de Filósofos e Sofistas. p. 125.
- PLATÃO. Timeu. §48b3-8. “ηὴλ δὴ πξὸ ηῆο νὐξαλν γελέζεωο ππξὸο ὕδαηόο ηε θαὶ ἀέξνο θαὶ γῆο θύζηλ ζεαηένλ αὐηὴλ θαὶ ηὰ πξὸ ηνύηνπ πάζε· λλ γὰξ νὐδείο πω γέλεζηλ αὐηλ κεκήλπθελ, ἀιι‘ ὡο εἰδόζηλ πξ ὅηη πνηέ ἐζηηλ θαὶ ἕθαζηνλ αὐηλ ιέγνκελ ἀξρὰο αὐηὰ ηηζέκελνη ζηνηρεῖα ην παληόο”.
- Idem. Crátilo. §393d6-7. “ἀιι’ ὥζπεξ ηλ ζηνηρείωλ νἶζζα ὅηη ὀλόκαηα ιέγνκελ ἀιι’ νὐθ αὐηὰ ηὰ ζηνηρεῖα”.
- Idem. Timeu. §53c4-8. “Πξηνλ κὲλ δὴ πξ θαὶ γῆ θαὶ ὕδωξ θαὶ ἀὴξ ὅηη ζώκαηά ἐζηη, δῆιόλ πνπ θαὶ παληί· ηὸ δὲ ην ζώκαηνο εἶδνο πᾶλ θαὶ βάζνο ἔρεη. ηὸ δὲ βάζνο αὖ πᾶζα ἀλάγθε ηὴλ ἐπίπεδνλ πεξηεηιεθέλαη θύζηλ· ἡ δὲ ὀξζὴ ηῆο ἐπηπέδνπ βάζεωο ἐθ ηξηγώλωλ ζπλέζηεθελ”.
- LOPES, Rodolfo. Introdução. In.: Timeu. p. 29-30.
- PLATÃO. República. §592b2-3. “Ἀιι’, ἦλ δ’ ἐγώ, ἐλ νὐξαλ ἴζωο παξάδεηγκα ἀλάθεηηαη η βνπινκέλ ὁξᾶλ θαὶ ὁξληη ἑαπηὸλ θαηνηθίδεηλ”.
- BLANCHOT, Maurice. Para onde vai a literatura? In.: O Livro Por Vir. p. 342.
- BLANCHOT, M. Para onde vai a literatura? In.: O Livro Por Vir. p. 346